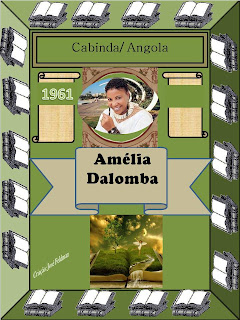O cavalo parou. Os cascos sem ferraduras firmaram-se nas pedras redondas e resvaladiças que cobriam o fundo quase seco do rio. O homem afastou com as mãos, cautelosamente, os ramos espinhosos que lhe tapavam a visão para o lado da planície. Amanhecia já. Ao longe, onde as terras subiam, primeiro em suave encosta, como tinha lembrança se eram ali iguais à passagem por onde descera muito ao norte, depois abruptamente rasgadas por um espinhaço basáltico que se erguia em muralha vertical, havia umas casas àquela distância baixíssimas, rasteiras, e umas luzes que pareciam estrelas. Sobre a montanha, que barrava todo o horizonte daquele lado, via-se uma linha luminosa, como se uma pincelada sutil tivesse percorrido os cimos, e, úmida, aos poucos se derramasse pela vertente. Dali viria o sol. O homem largou os ramos com um movimento descuidado e arranhou-se: soltou um ronco inarticulado e levou o dedo à boca para chupar o sangue. O cavalo recuou batendo as patas, varreu com a cauda as ervas altas que absorviam os restos da umidade ainda conservada na margem do rio pelo abrigo que os ramos pendentes faziam, cortina àquela hora negra. O rio estava reduzido ao fio de água que corria na parte mais funda do leito, entre pedras, de longe em longe aberta em charcos onde sobreviviam e ansiavam peixes. Havia no ar uma umidade que prenunciava chuva, tempestade, decerto não nesse dia, mas no outro, ou passados três sóis, ou na próxima lua. Muito lentamente, o céu aclarava. Era tempo de procurar um esconderijo, para descansar e dormir.
O cavalo teve sede. Aproximou-se da corrente de água, que estava como parada sob a chapa da noite, e quando as patas da frente sentiram a frescura líquida, deitou-se no chão, de lado. O homem, com o ombro assente na areia áspera, bebeu longamente, embora não tivesse sede. Por cima do homem e do cavalo, a parte ainda escura do céu rodava devagar, arrastando atrás de si uma luz pálida, apenas por enquanto amarelada, primeiro e, se não conhecido, enganador anúncio do carmim e do vermelho que depois explodiriam por cima da montanha, como em tantas outras montanhas de tão diferentes lugares vira acontecer ou ao rés das planícies. O cavalo e o homem levantaram-se. Em frente estava a espessa barreira das árvores, com defesas de silvados entre os troncos. No alto dos ramos já piavam pássaros. O cavalo atravessou o leito do rio num trote inseguro e quis romper a direito pelo emaranhado vegetal, mas o homem preferia uma passagem mais fácil. Com o tempo, e tivera muito e muito tempo para isso, aprendera os modos de moderar a impaciência animal, algumas vezes opondo-se a ela com uma violência que eclodia e prosseguia toda no seu cérebro, ou porventura num ponto qualquer do corpo onde se entrechocavam as ordens que do mesmo cérebro partiam e os instintos obscuros alimentados talvez entre os flancos, onde a pele era negra; outras vezes cedia, desatento, a pensar noutras coisas, coisas que eram sim deste mundo físico em que estava, mas não deste tempo. O cansaço tornara o cavalo nervoso: a pele estremecia como se quisesse sacudir um tavão frenético e sequioso de sangue, e os movimentos das patas multiplicavam-se desnecessários e ainda mais fatigantes. Seria uma imprudência tentar abrir caminho através do entrelaçado das silvas. Havia demasiadas cicatrizes no pêlo branco do cavalo. Uma delas, muito antiga, traçava na garupa um rasto largo, oblíquo. Quando o sol batia forte, de chapa, ou quando, pelo contrário, o frio arrepiava e eriçava o pêlo, era como se ali, faixa sensível e desprotegida, assentasse incandescente um fio de espada. Apesar de muito bem saber que nada iria encontrar a não ser uma cicatriz maior do que as outras, o homem, nessas ocasiões, torcia o tronco e olhava para trás, como para o fim do mundo.
A pequena distância, para jusante, a margem do rio recolhia-se para o interior do campo: havia decerto ali uma albufeira, ou seria um afluente, tão seco ou mais ainda. O fundo era lodoso, tinha poucas pedras. Ao redor desta espécie de bolsa, afinal simples braço do rio que enchia e vazava com ele, havia árvores altas, negras sob a escuridão que só lentamente se ia levantando da terra. Se a cortina dos troncos e dos ramos derrubados fosse suficientemente densa, poderia passar ali o dia, bem escondido, até que fosse outra vez noite e pudesse continuar o seu caminho. Afastou com as mãos as folhas frescas e, impelido pela força dos jarretes, venceu a ribanceira na escuridão quase total que as copas fartas das árvores defendiam naquele lugar. Logo a seguir, o terreno tornava a descer para uma vala que, mais adiante, provavelmente, atravessaria o campo a descoberto. Encontrara um bom esconderijo para descansar e dormir. Entre o rio e a montanha havia campos de cultivo, terras amanhadas, mas aquela vala, profunda e estreita, não mostrava sinais de ser lugar de passagem. Deu mais alguns passos, agora em completo silêncio. Os pássaros assustados observavam. Olhou para cima: viu iluminadas as pontas altas dos ramos. A luz rasante que vinha da montanha roçava agora a alta franja vegetal. Os pássaros recomeçaram a chilrear. A luz descia pouco a pouco, poeira esverdeada que se mudava em róseo e branco, neblina sutil e instável do amanhecer. Os troncos negríssimos das árvores, contra a luz, pareciam ter apenas duas dimensões, como se tivessem sido recortados do que restava da noite e colados sobre a transparência luminosa que mergulhava na vala. O chão estava coberto de espadanas. Um bom sítio para passar o dia dormindo, um refúgio tranquilo.
Vencido por uma fadiga de séculos e milênios, o cavalo ajoelhou-se. Encontrar posição para dormir que a ambos conviesse, era sempre uma operação difícil. Em geral, o cavalo deitava-se de lado e o homem repousava também assim. Mas enquanto o cavalo podia ficar uma noite inteira nessa posição, sem se mexer, o homem, para não mortificar o ombro e todo o mesmo lado do tronco, tinha de vencer a resistência do grande corpo inerte e adormecido para o fazer voltar-se para o lado oposto: era sempre um sonho difícil. Quanto a dormir de pé, o cavalo podia, mas o homem não. E quando o esconderijo era demasiado estreito, a mudança tornava-se impossível e a exigência dela ansiedade. Não era um corpo cômodo. O homem nunca podia deitar-se de bruços sobre a terra, cruzar os braços sob o queixo e ficar assim a ver as formigas ou os grãos de terra, ou a contemplar a brancura de um caule tenro saindo do negro húmus. E sempre para ver o céu tivera de torcer o pescoço, salvo quando o cavalo se empinava nas patas traseiras, e o rosto do homem, no alto, podia inclinar-se um pouco mais para trás: então, sim, via melhor a grande campânula noturna das estrelas, o prado horizontal e tumultuoso das nuvens, ou o sino azul e o sol, como o último vestígio da forja original.
O cavalo adormeceu logo. Com as patas metidas entre as espadanas, as crinas da cauda espalhadas pelo chão, respirava profundamente, num ritmo certo. O homem, meio reclinado, com o ombro direito fincado na parede da vala, arrancou alguns ramos baixos e cobriu-se com eles. Em movimento suportava bem o frio e o calor, ainda que não tão bem como o cavalo. Mas quando quieto e adormecido arrefecia rapidamente. Agora, pelo menos enquanto o sol não aquecesse a atmosfera, iria sentir-se bem sob o conforto das folhagens. Na posição em que estava, podia ver que as árvores não se fechavam completamente em cima: uma faixa irregular, já matinal e azul, prolongava-se para diante e, de vez em quando, atravessando-a de uma banda para a outra, ou seguindo-a na mesma direção por instantes, voavam velozmente os pássaros. Os olhos do homem cerraram-se devagar. O cheiro da seiva dos ramos arrancados entontecia-o um pouco. Puxou para cima do rosto um ramo mais farto de folhas e adormeceu. Nunca sonhava como sonha um homem. Também nunca sonhava como sonharia um cavalo. Nas horas em que estavam acordados, as ocasiões de paz ou de simples conciliação não eram muitas. Mas o sonho de um e o sonho do outro faziam o sonho do centauro.
Era o último sobrevivente da grande e antiga espécie dos homens-cavalos. Estivera na guerra contra os Lápitas, sua primeira e dos seus grande derrota. Com eles, vencidos, se refugiara em montanhas de cujo nome já se esquecera. Até que acontecera o dia fatal em que, com a parcial proteção dos deuses, Héracles dizimara os seus irmãos, e ele só escapara porque a demorada batalha de Héracles e Nesso lhe dera tempo para se refugiar na floresta. Tinham acabado então os centauros. Porém, contra o que afirmavam os historiadores e os mitólogos, um ficara ainda, este mesmo que vira Héracles esmagar num abraço terrível o tronco de Nesso e depois arrastar o seu cadáver pelo chão, como a Heitor viria a fazer Aquiles, enquanto se ia louvando aos deuses por ter vencido e exterminado a prodigiosa raça dos Centauros. Talvez repesos, os mesmos deuses favoreceram então o centauro escondido, cegando os olhos e o entendimento de Héracles por não se sabia então que desígnios.
Todos os dias, em sonho, lutava com Héracles e vencia-o. No centro do círculo dos deuses, de cada vez e sempre reunidos às ordens do seu sonho, lutava braço a braço, furtava a garupa escorregadia ao salto astuto que o inimigo tentava, esquivava-se à corda que lhe assobiava entre as patas, e obrigava-o a lutar de frente. O seu rosto, os braços, o tronco, suavam como pode suar um homem. O corpo do cavalo cobria-se de espuma. Este sonho repetia-se há milhares de anos, e sempre nele o desenlace se repetia: pagava em Héracles a morte de Nesso, chamava aos braços e aos músculos do torso toda a sua força de homem e de cavalo: assente nas quatro patas como se fossem estacas enterradas no chão, erguia Héracles ao ar e apertava, apertava, até que ouvia a primeira costela estalar, depois outra, e finalmente a espinha que se partia. Héracles, morto, escorregava para o chão como um trapo e os deuses aplaudiam. Não havia nenhum prêmio para o vencedor. Os deuses levantavam-se das suas cadeiras de ouro e afastavam-se, alargando cada vez mais o círculo até desaparecerem no horizonte. Da porta por onde Afrodite entrava no céu, saía sempre e brilhava uma grande estrela.
Há milhares de anos que percorria a terra. Durante muito tempo, enquanto o mundo se conservou também ele misterioso, pôde andar à luz do Sol. Quando passava, as pessoas vinham ao caminho e lançavam-lhe flores entrançadas por cima do seu lombo de cavalo, ou faziam com elas coroas que ele punha na cabeça. Havia mães que lhe davam os filhos para que os levantasse no ar e assim perdessem o medo das alturas. E em todos os lugares havia uma cerimônia secreta: no meio de um círculo de árvores que representavam os deuses, os homens impotentes e as mulheres estéreis passavam por baixo do ventre do cavalo: era crença de toda a gente que assim floria a fertilidade e se renovava a virilidade. Em certas épocas, levavam uma égua ao centauro e retiravam-se para o interior das casas: mas um dia, alguém que por esse sacrilégio veio a cegar, viu que o centauro cobria a égua como um cavalo e que depois chorava como um homem. Dessas uniões nunca houve fruto.
Então chegou o tempo da recusa. O mundo transformado perseguiu o centauro, obrigou-o a esconder-se. E outros seres tiveram de fazer o mesmo: foi o caso do unicórnio, das quimeras, dos lobisomens, dos homens de pés de cabra, daquelas formigas que eram maiores que raposas, embora mais pequenas que cães. Durante dez gerações humanas, este povo diverso viveu reunido em regiões desertas. Mas, com o passar do tempo, também ali a vida se tornou impossível para eles, e todos dispersaram. Uns como o unicórnio, morreram; as quimeras acasalaram com os musaranhos, e assim apareceram os morcegos; os lobisomens introduziram-se nas cidades e nas aldeias e só em noites marcadas correm o seu fado; os homens de pés de cabra extinguiram-se também, e as formigas foram perdendo tamanho e hoje ninguém é capaz de as distinguir entre aquelas suas irmãs que sempre foram pequenas. O centauro acabou por ficar sozinho. Durante milhares de anos, até onde o mar consentiu, percorreu toda a terra possível. Mas em todos os seus itinerários passava de largo sempre que pressentia as fronteiras do seu primeiro país. O tempo foi passando. Por fim, já lhe não sobrava terra para viver com segurança. Passou a dormir durante o dia e a caminhar de noite. Caminhar e dormir. Dormir e caminhar. Sem nenhuma razão que conhecesse, apenas porque tinha patas e sono. Comer, não precisava. E o sono só era necessário para que pudesse sonhar. E a água, apenas porque era a água.
Milhares de anos tinham de ser milhares de aventuras. Milhares de aventuras, porém, são demasiadas para valerem uma só verdadeira e inesquecível aventura. Por isso, todas juntas não valeram mais do que aquela, já neste milénio último, quando no meio de um descampado árido viu um homem de lança e armadura, em cima de um mirrado cavalo, investir contra um exército de moinhos de vento. Viu o cavaleiro ser atirado ao ar e depois um outro homem baixo e gordo acorrer, aos gritos, montado num burro. Ouviu que falavam numa língua que não entendia, e depois viu-os afastarem-se, o homem magro maltratado, e o homem gordo carpindo-se, o cavalo magro coxeando, e o burro indiferente. Pensou sair-lhes ao caminho para os ajudar, mas, tornando a olhar os moinhos, foi para eles a galope, e, postado diante do primeiro, decidiu vingar o homem que fora atirado do cavalo abaixo. Na sua língua natal, gritou: «Mesmo que tivesses mais braços do que o gigante Briareu, a mim haverias de o pagar.» Todos os moinhos ficaram com as asas despedaçadas e o centauro foi perseguido até à fronteira de um outro país. Atravessou campos desolados e chegou ao mar. Depois voltou para trás.
Todo o centauro dorme. Dorme todo o seu corpo. Já o sonho veio e passou, e agora o cavalo galopa por dentro de um dia antiquíssimo para que o homem possa ver desfilarem as montanhas como se por seu pé andassem, ou por veredas delas subir ao alto e dali olhar o mar sonoro e as ilhas espalhadas e negras, rebentando a espuma em redor delas como se da profundidade acabassem de nascer e de lá surgissem deslumbradas. Não é isto um sonho. Vem do largo um cheiro salino. As narinas do homem dilatam-se sôfregas, e os braços estendem-se para o alto, enquanto o cavalo, excitado, bate com os cascos em pedras que são mármore e afloram. As folhas que cobriam a cara do homem escorregaram, já murchas. O sol, alto, cobre o centauro de manchas de luz. Não é um rosto velho, o do homem. Novo, também não, porque não o poderia ser, porque os anos se contam por milhares. Mas pode comparar-se com o duma estátua antiga: o tempo gastou-o, não tanto que apagasse as feições, o bastante apenas para as mostrar ameaçadas. Uma pequena lagoa luminosa cintila sobre a pele, desliza muito lentamente para a boca, aquece-a. O homem abre os olhos de repente, como o faria a estátua. Pelo meio das ervas, afasta-se ondulando uma cobra. O homem leva a mão à boca e sente o sol. Nesse mesmo instante, a cauda do cavalo agita-se, varre a garupa e sacode um moscardo que sondava a pele fina da grande cicatriz. Rapidamente, o cavalo põe-se de pé e o homem acompanha-o. O dia vai por metade, outro tanto falta para que chegue a primeira sombra da noite, mas não há mais dormir. O mar, que não foi sonho, ainda ressoa nos ouvidos do homem, ou não o real ruído do mar, talvez o bater visto das ondas que os olhos transformam em ondas sonoras que vêm sobre as águas, sobem pelas gargantas rochosas até ao alto, até ao sol e ao céu azul de outra vez água.
Está perto. A vala por onde segue é apenas um acidente, leva a qualquer lado, é obra de homens e caminho para chegar aos homens. Porém, aponta na direção do sul, e é isso que conta. Avançará por ali até onde Ihe for possivel, mesmo sendo dia, mesmo com o sol cobrindo toda a planície e denunciando tudo, homem ou cavalo. Uma vez mais vencera Héracles no sonho, diante de todos os deuses imortais, mas, acabado o combate, Zeus retirara-se para o sul, e foi depois que desfilaram as montanhas e do ponto mais alto delas, onde havia umas colunas brancas, viam-se as ilhas e a espuma em redor. Está perto a fronteira e Zeus afastou-se para o sul.
Caminhando ao longo da vala estreita e funda, o homem pode ver o campo de um lado e do outro. As terras parecem agora abandonadas. Já não sabe onde ficou a povoação que vira na hora do amanhecer. O grande espinhaço rochoso cresceu de altura, ou está talvez mais próximo. As patas do cavalo afundam-se no chão mole que aos poucos vai subindo. Todo o tronco do homem está já fora da vala, as árvores tornam-se mais espaçadas, e de súbito, quando o campo ficou todo aberto, a vala acaba. O cavalo vence com um simples movimento o último declive, e o centauro aparece todo no claro do dia. O sol está à mão direita e bate com força na cicatriz, que, ferida, arde. O homem olha para trás, segundo o seu costume. A atmosfera está abafada e úmida. Não é porém que o mar esteja tão perto. Esta umidade promete chuva e este brusco sopro de vento também. Ao norte, juntam-se nuvens.
O homem hesita. Há muitos anos que não ousa caminhar a descoberto, sem a proteção da noite. Mas hoje sente-se tão excitado como o cavalo. Avança pelo terreno coberto de mato donde se desprendem cheiros fortes de flores bravas. A planície terminou, e agora o chão ergue-se em corcovas e limita o horizonte ou alarga-o cada vez mais, porque as elevações já são colinas e adiante levanta-se uma cortina de montes. Começam a surgir arbustos e o centauro sente-se mais protegido. Tem sede, muita sede, mas ali não há sinal de água. O homem olha para trás e vê que metade do céu está já coberto de nuvens. O sol ilumina o bordo nítido de um grande nimbo cinzento que avança.
É neste momento que se ouve ladrar um cão. O cavalo estremece de nervosismo. O centauro lança-se a galope entre duas colinas, mas o homem não perde o sentido: seguir na direção do sul. O ladrar está mais perto, e ouve-se também um tilintar de campainhas e depois uma voz falando a gado. O centauro parou para se orientar, porém os ecos enganaram-no e, de súbito, num terreno baixo e úmido inesperado, aparece-lhe um rebanho de cabras e à frente dele um grande cão. O centauro estacou. Algumas das cicatrizes que Ihe riscavam o corpo, devia-as aos cães. O pastor deu um grito espavorido e largou a fugir, como louco. Chamava em altos berros: devia haver uma povoação ali perto. O homem dominou o cavalo e avançou. Arrancou um ramo forte de um arbusto para afastar o cão, que se estrangulava a ladrar, de fúria e medo. Mas foi a fúria que prevaleceu: o cão ladeou rapidamente umas pedras e tentou apanhar o centauro de flanco, pelo ventre. O homem quis olhar para trás, ver donde vinha o perigo, mas o cavalo antecipou-se, e rodando veloz sobre as patas da frente, desferiu um violento coice que apanhou o cão no ar. O animal foi bater contra as pedras, morto. Não era a primeira vez que o centauro se defendia assim, mas de todas as vezes o homem se sentia humilhado. No seu próprio corpo batia a ressaca da vibração geral dos músculos, a vaga de energia que deflagrava, ouvia o bater surdo dos cascos, mas estava de costas voltadas para a batalha, não era parte nela, espectador quando muito.
O sol escondera-se. O calor desapareceu subitamente do ar e a umidade tornou-se palpável. O centauro correu entre as colinas, sempre para o sul. Ao atravessar um pequeno regato viu terrenos cultivados, e quando procurava orientar-se esbarrou com um muro. Para um lado, havia algumas casas. Foi então que se ouviu um tiro. Como de um enxame, sentiu o corpo do cavalo crispar-se sob as picadas. Havia gente que gritava e depois deram outro tiro. A esquerda estalaram ramos dilacerados, mas nenhum bago de chumbo o atingiu desta vez. Recuou para ganhar balanço, e num impulso venceu o muro. Passou sobre ele, voando, homem e cavalo, centauro, quatro patas estendidas ou dobradas, dois braços abertos para o céu ainda para além azul. Soaram mais tiros, e depois foi o tropel dos homens que o perseguiam pelos campos, dando gritos, e o ladrar dos cães.
Tinha o corpo coberto de espuma e de suor. Houve um momento em que parou para procurar caminho. O campo em redor tornou-se também expectante, como se estivesse de ouvido à escuta. E então caíram as primeiras e pesadas gotas de chuva. Mas a perseguição continuava. Os cães seguiam um rasto para eles estranho, mas de mortal inimigo: um misto de homem e de cavalo, umas patas assassinas. O centauro correu mais, correu muito, até que percebeu que os gritos se tinham tornado diferentes e o ladrar dos cães era já de frustração. Olhou para trás. A uma boa distância, viu os homens parados, ouviu-lhes as ameaças. E os cães que tinham avançado voltavam para os donos. Mas ninguém se adiantava. O centauro vivera tempo bastante para saber que isto era uma fronteira, um limite. Os homens, segurando os cães, não ousavam atirar-lhe tiros: apenas um foi disparado, mas de tão longe que não ouviu sequer cair o chumbo. Estava salvo, sob a chuva que desabava em torrente e abria regos rápidos entre as pedras, sobre esta terra onde nascera. Continuou a caminhar para o sul. A água ensopava-lhe o pêlo branco, lavava a espuma, o sangue e o suor e toda a sujidade acumulada. Regressava muito velho, coberto de cicatrizes, mas imaculado.
De repente, a chuva parou. No momento seguinte, o céu ficou todo varrido de nuvens, e o sol caiu de chapa sobre a terra molhada donde, ardendo, fez levantar nuvens de vapor. O centauro caminhava a passo, como se viajasse sobre uma neve imponderável e tépida. Não sabia onde estava o mar, mas ali era a montanha. Sentia-se forte. Matara a sede com a água da chuva, levantando o rosto para o céu, de boca aberta, bebendo em longos haustos, com a torrente a deslizar-lhe pelo pescoço, pelo tronco abaixo, lustralmente. E agora descia para o lado sul da montanha, devagar, rodeando os enormes pedregulhos que se amontoavam e escoravam uns aos outros. O homem apoiava as mãos nos penedos mais altos, sentindo debaixo dos dedos os musgos macios, os líquens ásperos, ou a rugosidade estreme da pedra. Em baixo havia, de largo a largo, um vale que àquela distância parecia estreito, enganadoramente. Ao longo dele, com grandes intervalos, via três povoações, ao meio a maior, e o sul para além dela. Cortando o vale a direito, teria de passar perto da povoação. Passaria? Lembrava-se da perseguição, dos gritos, dos tiros, dos outros homens do lado de lá da fronteira. Do incompreensível ódio. Esta terra era a sua, mas quem eram os homens que nela viviam? O centauro continuava a descer. O dia ainda estava longe de acabar. O cavalo, exausto, pousava os cascos com cuidado, e o homem pensou que lhe conviria descansar antes de se aventurar na travessia do vale. E, sempre pensando, decidiu que esperaria pela noite, que antes dormiria em qualquer refúgio que encontrasse, para ganhar as forças necessárias à longa caminhada que lhe restava fazer até ao mar.
Continuou a descer, cada vez mais lentamente. E quando enfim se dispunha a ficar entre duas pedras, viu a entrada negra duma caverna, alta bastante para que todo ele pudesse entrar, homem e cavalo. Ajudando-se com os braços, assentando ao de leve os cascos rapados pelas pedras duríssimas, introduziu-se na gruta. Não era muito funda, nenhuma caverna se prolongava pela montanha dentro, mas havia espaço bastante para mover-se nela à vontade. O homem apoiou os antebraços na parede rochosa e deixou pender a cabeça sobre eles. Respirava fundo, procurando resistir, não acompanhar o ofegar ansioso do cavalo. O suor escorria-lhe pela cara. Depois o cavalo dobrou as patas da frente e deixou-se cair no chão coberto de areia. Deitado, ou soerguido como era hábito, o homem nada podia ver do vale. A boca da gruta abria apenas para o céu azul. Em qualquer ponto, lá no fundo, gotejava água, a longos intervalos regulares, produzindo um eco de cisterna. Uma paz profunda enchia a gruta. Estendendo um braço para trás, o homem passou a mão sobre o pêlo do cavalo, sua própria pele transformada ou pele que em si transformara. O cavalo estremeceu de satisfação, todos os seus músculos se distenderam e o sono ocupou o grande corpo. O homem deixou cair a mão, que escorregou e foi repousar na areia seca.
O sol, descendo no céu, começou a iluminar a gruta. O centauro não sonhou com Héracles nem com os deuses sentados em círculo. Também não se repetiu a grande visão das montanhas viradas para o mar, as ilhas espumejantes, a infinita extensão líquida e sonora. Apenas uma parede escura, ou apenas sem cor, baça, intransponível. Entretanto, o sol entrou até ao fundo da caverna, fez cintilar todos os cristais da pedra, transformou cada gota de água numa pérola vermelha que se desprendia do tecto, mas antes inchava até ao inverossímil, e depois riscava três metros de fogo vivo, para se afundar num pequeno poço já escuro. O centauro dormia. O azul do céu foi desmaiando, inundou-se o espaço de mil cores de forja, e o entardecer arrastou devagar a noite como um corpo cansado que por sua vez vai adormecer. A gruta, em trevas, tornara-se imensa, e as gotas de água caíam como pedras redondas na aba de um sino. Era já noite escura e a Lua nasceu.
O homem acordou. Sentia a angústia de não ter sonhado. Pela primeira vez em milhares de anos, não sonhara. Abandonara-o o sonho na hora em que regressara à terra onde nascera? Porquê? Que presságio? Que oráculo diria? O cavalo, mais longe, dormia ainda, mas já inquietamente. De vez em quando agitava as patas traseiras, como se galopasse em sonhos, não dele, que não tinha cérebro, ou somente emprestado, mas da vontade que os músculos eram. Deitando a mão a uma pedra saliente, ajudando-se com ela, o homem levantou o tronco, e, como se estivesse em estado de sonambulidade, o cavalo seguiu-o, sem esforço, num movimento fluido em que parecia não haver peso. E o centauro saiu para a noite.
Todo o luar do espaço se espalhava sobre o vale. Tanto era que não podia ser apenas o da simples, pequena lua da terra, Sélene silenciosa e fantasmal, mas o de todas as luas levantadas na infinita sucessão das noites onde outros sóis e terras sem esses e outros nenhuns nomes rodam e brilham. O centauro respirou fundo pelas narinas do homem: o ar estava macio, como se passasse pelo filtro duma pele humana, e havia nele o perfume da terra que foi molhada e agora devagar está secando, entre o labiríntico abraço das raízes que seguram o mundo. Desceu para o vale por um caminho fácil, quase remansoso, jogando harmoniosamente com os seus quatro membros de cavalo, oscilando os seus dois braços de homem, passo a passo, sem que uma pedra rolasse, sem que uma aresta viva abrisse outro rasgão na pele. E foi assim que chegou ao vale, como se a viagem fizesse parte do sonho que não tivera enquanto dormira. Adiante havia um rio largo. Do outro lado, um pouco para a esquerda, era a povoação maior, aquela que estava no caminho do sul. O centauro avançou a descoberto, seguido pela sombra singular que não tinha par no mundo. Trotou ligeiramente pelos campos cultivados, mas escolhia os carreiros para não pisar as plantas. Entre a faixa de cultura e o rio havia árvores dispersas e sinais de gado. O cavalo, sentindo o cheiro, agitou-se, mas o centauro seguiu para a frente, para o rio. Entrou cautelosamente na água, tateando com os cascos. A profundidade foi aumentando, até chegar ao peito do homem. No meio do rio, sob o luar que era outro rio correndo, quem visse veria um homem atravessando a vau, com os braços erguidos, braços, ombros e cabeça de homem, cabelos em vez de crinas. Pelo interior da água caminhava um cavalo. Os peixes, acordados pelo luar, nadavam em redor dele e mordiscavam-lhe as pernas.
Todo o tronco do homem saiu da água, depois apareceu o cavalo, e o centauro subiu para a margem. Passou por baixo dumas árvores e no limiar da planície parou para se orientar. Lembrou-se de como o tinham perseguido do outro lado da montanha, lembrou-se dos cães e dos tiros, dos homens aos gritos, e teve medo. Preferia agora que a noite fosse escura, teria preferido caminhar debaixo duma tempestade como a do dia anterior, que fizesse recolher os cães e afastasse as pessoas para casa. O homem pensou que toda a gente naqueles arredores já devia saber da existência do centauro, que decerto a notícia tinha passado por cima da fronteira. Compreendeu que não podia atravessar o campo em linha reta, em plena luz. A passo, começou a seguir ao longo do rio, sob a proteção da sombra das árvores. Talvez adiante o terreno lhe fosse mais favorável, onde o vale se estreitava e acabava entalado entre duas altas colinas. Continuava a pensar no mar, nas colunas brancas, fechava os olhos e revia o rasto que Zeus deixara ao afastar-se para o sul.
Subitamente, ouviu um marulhar de água. Ficou parado, à escuta. O rumor repetia-se, diminuía, voltava. Sobre o chão coberto de erva rasteira, os passos do cavalo soavam tão abafados que não se distinguiam entre a múltipla e tépida crepitação da noite e do luar. O homem afastou os ramos e olhou para o rio. Na margem havia roupas. Alguém tomava banho. Empurrou mais os ramos. E viu uma mulher. Saía da água, completamente despida, brilhava sob o luar, branca. Muitas outras vezes o centauro vira mulheres, mas nunca assim, neste rio, com esta lua. Outras vezes vira seios oscilando, o tremor das coxas ao andar, o ponto de escuridão no centro do corpo. Outras vezes vira cabelos caindo para as costas, e mãos que os lançavam para trás, gesto tão antigo. Mas a parte que lhe cabia do mundo em que as mulheres viviam, era só a que satisfaria o cavalo, talvez o centauro, não o homem. E foi o homem que olhou, que viu a mulher aproximar-se da roupa, foi ele que rompeu por entre os ramos, correu para ela no seu trote de cavalo e depois, ao mesmo tempo que ela gritava, a levantou nos braços.
Também isto fizera algumas vezes, tão poucas, em milhares de anos. Acto inútil, apenas assustador, acto que poderia ter deixado atrás de si a loucura, se isso mesmo não aconteceu. Mas esta era a sua terra e a primeira mulher que nela via. O centauro correu ao longo das árvores, e o homem sabia que mais adiante pousaria a mulher no chão, frustrado ele, apavorada ela, mulher inteira, homem por metade. Agora um caminho largo quase tocava as árvores, e adiante o rio fazia uma curva. A mulher já não gritava, apenas soluçava e tremia. E foi então que se ouviram outros gritos. No virar da curva, o centauro foi parar a um pequeno aglomerado de casas baixas que as árvores escondiam. Havia gente no pequeno espaço em frente. O homem apertou a mulher contra o peito. Sentia-lhe os seios duros, o púbis no lugar em que o seu corpo de homem se recolhia e se tornava peitoral de cavalo. Algumas pessoas fugiram, outras atiraram-se para a frente, e outras entraram nas casas e saíram com espingardas. O cavalo levantou-se sobre as patas traseiras, encabritou-se para as alturas. A mulher, assustada, gritou uma vez mais. Alguém disparou um tiro para o ar. O homem compreendeu que a mulher o protegia. Então, o centauro ladeou para o campo aberto, fugindo das árvores que poderiam embaraçar-lhe os movimentos, e, sempre com a mulher agarrada, contornou as casas e lançou-se a galope pelo campo fora, na direção das duas colinas. Atrás de si ouvia gritos. Talvez se lembrassem de persegui-lo a cavalo, mas nenhum cavalo podia competir com um centauro, como fora demonstrado em milhares de anos de fuga constante. O homem olhou para trás: os perseguidores vinham longe, muito longe. Então, segurando a mulher por baixo dos braços, olhando-a em todo o corpo, com todo o luar despindo-a, disse na sua velha língua, na língua dos bosques, dos favos de mel, das colunas brancas, do mar sonoro, do riso sobre as montanhas:
— Não me queiras mal.
Depois, devagar, pousou-a no chão. Mas a mulher não fugiu. Saíram-lhe da boca palavras que o homem foi capaz de entender:
— Tu és um centauro. Tu existes.
Pousou-lhe as duas mãos sobre o peito. As patas do cavalo tremiam. Então a mulher deitou-se e disse:
— Cobre-me.
O homem via-a de cima, aberta em cruz. Avançou lentamente. Durante um momento, a sombra do cavalo cobriu a mulher. Nada mais. Então o centauro afastou-se para o lado e lançou-se a galope, enquanto o homem gritava, cerrando os punhos na direção do céu e da lua. Quando os perseguidores se aproximaram enfim da mulher, ela não se mexera. E quando a levaram, embrulhada numa manta, os homens que a transportavam ouviram-na chorar.
Naquela noite, todo o país soube da existência do centauro. O que primeiro se julgara ser uma história inventada do outro lado da fronteira com intenção de desfrute, tinha agora testemunhas de fé, entre as quais uma mulher que tremia e chorava. Enquanto o centauro atravessava esta outra montanha, saía gente das aldeias e das cidades, com redes e cordas, também com armas de fogo, mas só para assustar. É preciso apanhá-lo vivo, dizia-se. O exército também se pôs em movimento. Aguardava-se o nascer do dia para que os helicópteros levantassem voo e percorressem toda a região. O centauro procurava os caminhos mais escondidos, mas ouviu muitas vezes ladrarem cães, e chegou, mesmo, sob o luar que já esmorecia, a ver grupos de homens que batiam os montes. Toda a noite o centauro caminhou, sempre para o sul. E quando o Sol nasceu estava no alto duma montanha donde viu o mar. Muito ao longe, mar apenas, nenhuma ilha, e o som duma brisa que cheirava a pinheiros, não o bater da onda, não o perfume angustioso do sal. O mundo parecia um deserto suspenso da palavra povoadora.
Não era um deserto. Ouviu-se de repente um tiro. E então, num arco de círculo largo, saíram homens de detrás das pedras, em grande alarido, mas sem poderem disfarçar o medo, e avançaram com redes e cordas e laços e varas. O cavalo ergueu-se para o espaço, agitou as patas da frente e voltou-se, frenético, para os adversários. O homem quis recuar. Lutaram ambos, atrás, em frente. E na borda da escarpa as patas escorregaram, agitaram-se ansiosas à procura de apoio, e os braços do homem, mas o grande corpo resvalou, caiu no vazio. Vinte metros abaixo, uma lâmina de pedra, inclinada no ângulo necessário, polida por milhares de anos de frio e de calor, de sol e de chuva, de vento e neve desbastando, cortou, degolou o corpo do centauro naquele preciso sítio em que o tronco do homem se mudava em tronco de cavalo. A queda acabou ali. O homem ficou deitado, enfim, de costas, olhando o céu. Mar que se tornava profundo por cima dos seus olhos, mar com pequenas nuvens paradas que eram ilhas, vida imortal. O homem girou a cabeça de um lado para o outro: outra vez mar sem fim, céu interminável. Então olhou o seu corpo. O sangue corria. Metade de um homem. Um homem. E viu que os deuses se aproximavam. Era tempo de morrer.
Fonte:
SARAMAGO, José. Objecto quase.