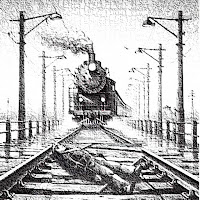Na Itália dos anos 70, a luz do sol dançava sobre as colinas da Pieve di Soligo, cidade do no interior da Itália, criando um espetáculo que parecia pintado à mão. Giovanni, um jovem de espírito livre, acordava ao amanhecer, quando a neblina ainda abraçava a terra. O aroma da terra molhada e o canto dos pássaros eram a sinfonia que lhe dava bom dia. A vida nos vinhedos era dura, mas cheia de beleza e significado.
Giovanni cresceu entre as videiras, aprendendo com seu pai os segredos do cultivo. As mãos calejadas do velho eram um testemunho de anos de trabalho árduo, e cada uva colhida era um pedacinho de história que se entrelaçava com a tradição familiar. As tardes eram passadas entre risadas e cantos, enquanto a família se reunia para a colheita. A alegria do trabalho em conjunto era contagiante e, para Giovanni, não havia lugar mais encantador no mundo.
A conexão com a natureza era profunda. Giovanni entendia que a terra não era apenas um recurso; era um lar. Ele via cada estação como uma parte do ciclo da vida — a primavera trazia o renascimento, o verão a abundância, o outono a gratidão, e o inverno, a pausa necessária. Essa harmonia era um reflexo de sua própria existência, onde cada desafio e cada conquista se entrelaçavam como as raízes das videiras.
Com o passar dos anos, Giovanni encontrou o amor em Isabella, uma jovem com olhos que brilhavam como as estrelas. Juntos, sonharam em construir uma família e cultivar não apenas uvas, mas também memórias. A cerimônia de casamento foi celebrada sob as videiras floridas, com amigos e familiares ao redor, dançando e rindo, enquanto o vinho escorria como um rio de felicidade.
A vida seguiu seu curso, e logo vieram os filhos. Cada um deles crescia correndo pelos vinhedos, brincando entre as folhas e aprendendo a amar a terra. Giovanni os ensinava a respeitar a natureza, a entender o valor de cada planta e cada animal que cruzava seu caminho. Para ele, a preservação ambiental não era apenas uma ideia; era um legado que ele desejava deixar.
Mas os anos 70 também trouxeram mudanças. A modernização começou a ameaçar o modo de vida tradicional. Máquinas pesadas substituíam as mãos calejadas, e vinhedos exuberantes davam lugar a monoculturas. Giovanni observava preocupado enquanto as colinas que antes eram vibrantes se tornavam mais áridas. O que aconteceria com o futuro dos seus filhos se a natureza fosse esquecida?
Em um dia especialmente claro, Giovanni decidiu que precisava agir. Reuniu a família e compartilhou suas preocupações. “A natureza nos deu tudo”, disse ele, com a voz embargada pela emoção. “Precisamos protegê-la, não apenas para nós, mas para aqueles que virão depois de nós.”
As crianças, com seus olhinhos curiosos, prometeram ajudar. Juntos, plantaram novas árvores, criaram um pequeno pomar e começaram a aprender sobre as práticas sustentáveis.
Os anos passaram, e a família de Giovanni se tornou um exemplo na comunidade. Outros vinhedos começaram a seguir seu caminho, buscando um equilíbrio entre tradição e inovação. A conexão com a natureza foi reestabelecida, e a beleza das colinas voltou a brilhar. A luta pela preservação não era apenas uma batalha, mas uma dança entre os seres humanos e a terra, onde cada passo importava.
Giovanni olhava para seus filhos, agora crescidos, e sentia um orgulho imenso. Havia algo mágico em ver a continuidade da vida, em saber que suas lições foram passadas adiante. As risadas que ecoavam pelo vinhedo eram um lembrete de que a natureza e a família estavam entrelaçadas, como as raízes das videiras.
Hoje, ao recordar aqueles dias, Giovanni entende que a verdadeira riqueza não está apenas na colheita abundante, mas na conexão que cultivamos com o mundo ao nosso redor. A preservação ambiental é um ato de amor, um compromisso com o futuro. E, enquanto a luz do sol se põe sobre as colinas da Pieve di Soligo, ele sabe que, assim como as videiras, a vida é um ciclo contínuo de crescimento, amor e respeito pela natureza. Que as futuras gerações possam sempre encontrar beleza e sabedoria nas lições da terra.
==================================
GIUSEPPE PAOLO DELL’ORSO nasceu em 1927, em Pieve di Soligo, na Itália. Desde jovem, demonstrava um profundo amor pela literatura, influenciado por seu avô, um poeta local. Foi para Roma estudar Literatura Italiana na Universidade La Sapienza. Destacou-se como um aluno excepcional, recebendo diversos prêmios acadêmicos. Após obter seu diploma, se mudou para a Inglaterra, onde fez pós-graduação em Literatura Comparada na Universidade de Harvard, cuja pesquisa lhe rendeu um doutorado com honras e o prêmio Harvard Literary Fellowship, um reconhecimento pela contribuição significativa ao campo da literatura. Em 2001, foi convidado a lecionar Literatura Italiana em uma universidade no Brasil, no estado do Paraná. No Brasil, se envolveu profundamente com a comunidade literária, fazendo amizade com muitos escritores locais. Organizou encontros literários e oficinas de poesia, promovendo um intercâmbio cultural que unia vozes italianas e brasileiras. Defensor ativo de causas sociais, contribuiu para várias entidades filantrópicas tanto no Brasil, quanto na Itália, focando em projetos que promovem a educação e a inclusão social, ajudando a criar bibliotecas comunitárias e programas de alfabetização em áreas carentes. Aposentado, perpetua a ideia de que a literatura é uma ponte que conecta pessoas, independentemente de fronteiras. Em 2005 criou uma conexão com o gestor cultural José Feldman. Conheceu o trabalho deste na Biblioteca de Parma onde há trovas e poemas da autoria de Feldman. Juntos, iniciaram diversos projetos que visavam fomentar a literatura e a troca cultural entre Brasil e Itália.
“A influência de Feldman na minha carreira literária é inegável. Através de suas iniciativas, não só ajudou a promover minhas obras, mas também contribuiu para a criação de uma comunidade literária vibrante, ao mesmo tempo que eu trazia uma nova perspectiva à cena literária, enriquecendo o diálogo cultural com nossas experiências e visões. A nossa amizade é um exemplo de como a literatura pode unir pessoas de diferentes culturas e origens. Juntos, promovemos a poesia e a literatura, mostrando que a arte é uma ponte que conecta corações e mentes, independentemente das fronteiras. A admiração mútua e a colaboração entre nós é um testemunho do poder transformador da amizade na literatura.” (GP Dell’Orso)
Autor de diversos livros, tanto em italiano quanto em português, com destaque para a poesia. Seus textos e poemas refletem a fusão entre a tradição literária italiana e as influências culturais brasileiras.
Fontes:
Giuseppe Paolo Dell’Orso. Cantos da Terra. Enviado pelo autor.
Imagem criada por Jfeldman com IA Microsoft Bing