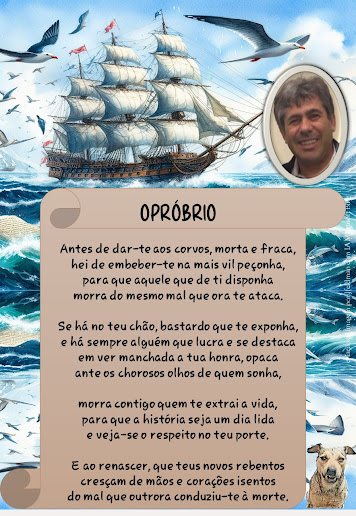Era uma vez um homem que tinha uma moça muito bonita, mas de gênio forte. As pessoas comentavam que a menina sendo tão bela quanto temperamental, acabaria dando trabalho ao pai, quando crescesse. Mas ele não se preocupava com isso. Aceitava a personalidade da filha e amava-a de todo o coração.
Alguns anos depois, a menina se transformou numa belíssima jovem. O pai compreendeu que em breve ela se casaria, pois não faltariam pretendentes.
Certo dia, três rapazes se apresentaram em sua casa, cada um mais gentil e bem-apessoado que o outro. Muito educadamente, pediram a mão da moça em casamento.
O pai, depois de conversar com os pretendentes, disse que os três lhe pareciam homens de caráter íntegro, capazes de fazer a moça feliz. Disse também que todos mereciam sua bênção e que seria uma honra ter um deles como genro.
— E quem será esse felizardo? — perguntaram os rapazes.
— Isso não sou eu quem vai decidir — o homem respondeu. — Meu genro será aquele que o coração de minha filha escolher.
Assim, o homem foi consultar a moça. Falou-lhe sobre as qualidades dos três pretendentes. E que todos lhe pareciam dignos de desposá-la.
A moça o ouviu com atenção. Por fim respondeu, muito tranquila, que gostaria de se casar com os três.
— Minha filha! — o bom homem se espantou. — Compreenda que isso é impossível. Nenhuma mulher pode ter mais que um marido.
— Pois eu escolho os três — ela respondeu sem se alterar.
— Sempre soube que você tinha um gênio forte. Sempre aceitei seu modo de ser. Mas para tudo há um limite. Agora pense bem, procure ter um mínimo de bom senso e não me dê mais dores de cabeça. Afinal, a qual dos pretendentes devo conceder sua mão?
— Aos três — a moça insistiu, com uma calma espantosa. — Preciso deles para viver.
— Você precisa é de uma boa dose de juízo, isto sim — o homem protestou, irritado.
Mas não houve maneira de fazer a moça mudar de ideia.
O pai meditou longamente sobre o problema que, de fato, era por demais complicado. Depois de muito pensar, encontrou uma solução; pediu aos três rapazes que saíssem pelo mundo em busca de uma raridade. Aquele que trouxesse o presente mais extraordinário, receberia a mão de sua filha.
Os três pretendentes partiram e combinaram de se reunir um ano depois, para que cada um mostrasse o seu presente. Porém, por mais que procurasse, nenhum deles encontrou algo que satisfizesse a exigência do pai da moça. Assim, depois de um ano, os três, com as mãos vazias, foram ao local onde haviam combinado o encontro.
O primeiro que chegou sentou-se para aguardar os outros dois. Enquanto esperava, um velhinho se aproximou e perguntou-lhe se não gostaria de comprar um pequeno espelho.
O rapaz examinou o espelho e respondeu que não via razão para comprá-lo.
O velhinho então explicou que, embora parecesse pequeno e comum, o espelho tinha um dom: quem nele se mirasse poderia ver qualquer pessoa que quisesse. Bastaria formular esse desejo, com todo o coração.
O rapaz resolveu fazer um teste. E ao constatar que o velhinho dizia a verdade, comprou o espelho sem discutir o preço.
O segundo pretendente, ao aproximar-se do local do encontro, foi abordado pelo mesmo velhinho, que lhe perguntou se não gostaria de comprar um pequeno frasco de bálsamo.
— Para que vou querer um bálsamo, meu velho, se percorri boa parte do mundo e não encontrei o que buscava?
O velhinho sorriu;
— Ah, mas este aqui tem o poder de ressuscitar os mortos.
Naquele momento, passavam por ali alguns homens, levando um amigo para ser enterrado. Sem pensar duas vezes, o rapaz pediu que abrissem o caixão e deixou cair algumas gotas do bálsamo na boca do defunto, que no mesmo instante se levantou, ergueu o caixão nos ombros e convidou a todos para almoçar em sua casa. Diante disso, o rapaz comprou o frasco sem regatear no preço.
Não muito longe dali, o terceiro pretendente caminhava à beira-mar, meditando, convencido de que os outros haviam encontrado algo raro e precioso, enquanto ele nada conseguira.
De súbito avistou um grande barco que, vencendo o mar encapelado, atracou no porto. Dele desceram muitas pessoas, dentre elas um velhinho que se aproximou e perguntou-lhe se não gostaria de comprar aquele barco.
— E para que vou querer isso? — disse o rapaz. — Este barco está tão velho, que daqui a algum tempo só servirá para lenha.
— Você está enganado, meu rapaz — disse o velhinho.
— Este barco possui um dom inestimável: o de levar seu dono, e aqueles que o acompanham, a qualquer lugar do mundo, em muito pouco tempo. Se duvida, pergunte a esses passageiros que vieram comigo, pois há meia hora estávamos em Roma.
O rapaz conversou com os passageiros e concluiu que isso era verdade. Então, comprou o barco pelo preço que o velhinho propôs.
Por fim, os três pretendentes se reuniram no local do encontro, multo satisfeitos. O primeiro contou que havia comprado um espelho, no qual seu dono poderia ver quem desejasse. Para provar que falava a verdade, mirou-se no espelho enquanto pedia, de coração, para ver a moça por quem os três estavam apaixonados.
A imagem da moça, morta num caixão, surgiu no cristal do espelho, deixando os três sem fala por alguns instantes.
Por fim, o segundo pretendente quebrou o silêncio;
— Trago um bálsamo capaz de ressuscitar os mortos.
Mas até chegarmos à casa de nossa querida, ela já terá sido enterrada.
— Acalmem-se — disse o terceiro pretendente. — A circunstância não é tão ruim quanto parece.
Diante do olhar de espanto dos outros dois, explicou:
— Por sorte, acabei de comprar um barco que em pouquíssimo tempo nos levará até nossa amada.
Os três correram para a embarcação e, de fato, em apenas alguns minutos chegaram ao porto do povoado. Então foram até a casa da moça, onde tudo já estava pronto para o enterro. O pai, desolado, relutava em dar a ordem final para a saída do cortejo rumo ao cemitério.
Os três rapazes se aproximaram do caixão. Aquele que tinha o bálsamo derramou algumas gotas na boca da morta. Assim que o bálsamo tocou-lhe os lábios, a moça se levantou, saudável e radiante,
Todos ficaram maravilhados com a atitude do jovem pretendente. Ainda naquele dia, o pai decidiu que era ele quem deveria se casar com sua filha. Mas os outros dois protestaram:
— Se não fosse por meu espelho, jamais saberíamos o que havia acontecido. E a esta hora minha amada já estaria a caminho do campo santo — disse um dos pretendentes.
Pois se não fosse meu barco, que nos transportou até aqui em poucos minutos, nem o espelho nem o bálsamo teriam podido trazer minha amada de volta — disse o outro.
Vocês têm razão — o pai da moça reconheceu. Muito confuso e desgostoso, pôs-se de novo a meditar sobre qual seria a melhor solução para aquele problema.
Tocando-lhe o ombro, a filha disse, com serena convicção:
– Agora o senhor entende, papai, porque eu precisava dos três para viver?
Fonte> Yara Maria Camillo (seleção). Contos populares espanhóis. SP: Landy, 2005.