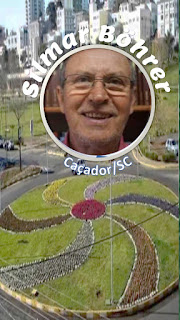Ibiamoré, o trem fantasma (1981), de Roberto Bittencourt Martins, apesar de ser um dos mais admiráveis romances da literatura do Rio Grande do Sul, é pouco lido e estudado. Publicado pela primeira vez em 1981, voltou a receber uma nova edição somente em 2006.
A paisagem vista pelas janelas da leitura – tomada em ato – cobre tempos, coxilhas e memórias que se apresentam, lançando pistas e fumaças, e sorriem como mágico seccional, distraindo a plateia com a direita para não desvendar o truque narrativo da mão esquerda. A lenda do Trem da noite surge, de súbito, alimentada na fornalha da Maria Fumaça por um gaúcho velho e cantor que passa a palavra e a ordenação das histórias e relatos aos narradores, os quais foram pesquisados e documentados pelo autor. Exatamente neste ponto, um apito surge e alerta-nos das nebulosas no escuro do sul platino e nas aventuras desta jornada que aprisiona e liberta a todos para que as páginas rumem a outros olhos no meio da noite da ação produzida no solo gaúcho, em especial, no da localidade de Ibiamoré.
O romance divide-se em 11 estações. Cada uma delas encerra uma parada e várias histórias, que se entrecruzam, apesar de os narradores muitas vezes não o saberem. O leitor é convidado a usar a sua memória, exercitá-la, a fim de criar sentido na narrativa que surge aparentemente confusa, para ajudar a construí-la. A narrativa realiza, tal como o trem, percursos variados, exigindo escolhas de nortes para orientar o passeio de leitura. Os onze capítulos, assim como os vagões, transportam histórias dos diferentes viventes e povoadores do extremo sul do Brasil, fazedor de divisas com o Uruguai e a Argentina. Cada capítulo é uma nova estação, a qual se apresentará compartimentada; sabe-se que os sujeitos semiapagados numa narrativa voltam de modo estelar e dramático na seguinte, pois essas personagens também pegarão o trem que:
Ninguém vê de onde vem,
aonde vai nem o que é.
Um trem correndo nos campos,
sem trilhos nem chaminé.
O trem fantasma encantado
dos campos de Ibiamoré. (1981, p. 15)
O cenário principal do romance seria Ibiamoré, uma região que se localizaria em um lugar indeterminado na fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. Uma fronteira imaginária no tempo e no espaço que separaria o que somos do que poderíamos ter sido. De lá o trem fantasma, ou trem da noite, partiria, sem respeitar fronteiras, passando pelas onze estações que compõem o romance. O trem cruza guerras como a guerra guaranítica e lutas por territórios; espreita-se por entre o medo do progresso e da mudança; confronta-se com preconceito e racismo. Durante o seu percurso pelas malhas da narrativa, entram e saem de cena muitas personagens e vários narradores: capitães, heróis, índios, jesuítas, espanhóis, portugueses, imigrantes, mulatos, mestiços, cronistas e até um autor. O ponto de partida remete ao fim do Império (1870-1888), época em que as primeiras locomotivas começavam a correr pelos trilhos recém-construídos no Estado do Rio Grande do Sul.
Em Ibiamoré, o trem fantasma, encontramos, porém, um tempo histórico anterior, pois surgem como personagens seguras que estariam entre os fundadores do Rio Grande do Sul, tais como Afonso Inácio, o capitão-menino, que seria o representante do português açoriano, o índio Teireté, representando a violência das guerras guaraníticas (1753-1756) e até um tal Frei Esteban Cortez, um padre jesuíta espanhol, que seria um dos primeiros a narrar a lenda do Trem Fantasma. Lendas de tempos e espaços diferentes encontram-se nas estações do romance, sugerindo que uma concepção diferente de tempo e espaço é defendida nas páginas do romance, através das vozes dos vários narradores que se dividem para dar conta da lenda do trem fantasma e de suas inúmeras versões. Se nossa identidade é também formada por nossa memória, por um determinado entrecruzar de tempo e espaço, pela história de nossa vida, a construção da identidade do gaúcho e a construção das identidades dos narradores de Martins são mostradas na obra. Os narradores funcionam como espelhos de si mesmos e de nós mesmos.
A lenda do trem
A narrativa principia com a descrição de uma cena comum a muitos gaúchos: um dia de friagem. O frio dos campos é contrastado com o calor da beira de um fogo, ao redor do qual se reúnem viventes em torno de um velho homem para ouvi-lo contar suas histórias. Ele pega sua viola e inicia a cantoria. O velho nos intima a ouvir a sua história assim como Martins nos chama para a beira do seu fogo a fim de ouvir a sua narrativa e não deixar que “o fogo de lenha ardendo no chão de terra” (1981, p. 9) se apague. Há uma clara referência à importância de contarmos histórias e de ficarmos “calados para escutar” (1981, p. 9). O valor da tradição oral da contação de histórias é reforçado, pois a perda da memória de um vivente pode converter-se na perda de memória de todos. Quem vai contar a história se o velho índio não a contar a outros? E se deixarmos o fogo se apagar? Qualquer narrativa é uma luta contra o esquecimento. A repetição, mesmo com diferença, cria lembrança. O importante é contar, contar, contar, contar repetidas vezes a mesma história até que pareça verdade ou faça sentido.
A narrativa do velho índio, e por aproximação a de Martins, oferece-se como uma tentativa de driblar o esquecimento, o apagamento da lenda do trem fantasma ou trem da noite e das lendas que formam a nossa história e a nossa identidade.
Em todas as 11 estações, repete-se uma estrutura. A estação recebe um nome e é composta por quatro partes. Na primeira, há uma narrativa sobre a lenda do trem fantasma, através de um dos seus narradores. Depois há uma parada, que recebe o nome da estação, e finalmente duas outras histórias, que recebem ou o nome de seu protagonista ou de uma localidade. Apesar de aparentemente não manterem relação com narrativas anteriores ou posteriores, acabam entrecruzando-se. De modo particular, os capítulos nominados como estações/paradas estão organizados.
No primeiro capítulo, ou estação, há um relato intitulado “O trem: a Lenda” que apresenta a lenda do trem fantasma ao leitor. Esse relato é precedido por um poema de autor sul-rio-grandense usado como epígrafe como acontece em todos os capítulos. O poema, como na maioria dos casos, é de um poeta pouco conhecido da literatura do Rio Grande do Sul; entretanto, também são usados fragmentos de obras de autores mais conhecidos como Simões Lopes Netto. No primeiro capítulo, Martins apresenta um fragmento de um poema de autoria de Alberto Ramos, poeta pelotense que viveu entre 1871 e 1941 e que hoje é pouco lembrado. O poema versa sobre a morte e a ligação entre o trem e a morte é estabelecida mais adiante:
Após explicar a lenda, o narrador apressa-se em apresentar as variantes da lenda, trazendo as razões que levariam pessoas a entrarem nesse trem do esquecimento do qual nunca mais se sairia: crianças, lindas mulheres, bebidas, festas (1981, p. 14-15). O narrador deixa claro que aqueles que no trem ingressam, esquecem-se do que está fora do trem, pois somem “da vista e da memória”, pois “nada mais existe além do trem”. (1981, p. 14)
Após esse relato, na primeira parada, é contada a história de Afonso Inácio, o capitão menino, que “lutava buscando a morte”, pois “Era menino, mas o que desejava era morrer” (1981, p. 21). Ao longo de sua vida de batalhas, questionava-se “haverá por que viver?”, assombrado por seus fantasmas, mortos, escombros e ruínas, sendo “estrangeiro ao mundo, viajando em si mesmo” (1981, p. 23). Afonso Inácio “por duas vezes sofreu o mesmo infortúnio, como se o Destino lhe houvesse traçado o passar duas vezes pelo mesmo ponto de sua existência” (1981, p. 25).
Tempo e espaço são equiparados. Assim, a narrativa de Martins estrutura-se misturando a história sul rio-grandense a mitos e ficção. Isso nos traz a questão de que a narrativa se situaria em um tempo mítico. A cada estação os trilhos se cruzam e se sobrepõem, levando os vagões da memória a estações surpreendentes. O leitor é convidado a embarcar em uma jornada guiada pelas malhas associativas dos inúmeros narradores. Todos têm a sua versão da lenda do trem fantasma. A estrutura é associativa, pois a memória, como já dito, é seletiva e associativa. Mais do que isso: a memória é afetiva. Rastros ou vestígios memoriais podem ser cartas, poemas, relatos orais, anotações, que interpolados na narrativa remetem a outro tempo ou lugar e com os quais se mantém uma memória afetiva.
A relação entre esses elementos e os narradores dá o tom aos relatos.
O capítulo II intitula-se Santa Joana e enfoca outra versão da lenda “O Trem: Relato de João José Cohimbra”. João José relata, no jornal O Mercantil, a história de um menino de 15 anos que embarca no Trem Fantasma, restando a mãe no desespero; ao final do artigo, avalia a lenda e o povo interiorano como rústico e supersticioso frente à modernidade que o novo meio de transporte que os espanta. Posteriormente, somos informados sobre a trajetória do cronista João José que, depois de retornar da Europa, casa-se, passando a residir “numa fazenda do sogro, nas cercanias de Campos Claros”. Foge, às pressas, com a esposa e o filho para o Uruguai por ter assediado a menina de 13 anos, Carlinda. Aos 43 anos, morre num desastre de trem ao sair da estância de Las Mercedes em direção a Montevidéu a fim de assistir a opera verdiana “La forza del Destino”, à qual havia assistido em Porto Alegre, na voz da italiana Angela Gattini. Seu ex-sócio Mr. John Kendall assume os negócios e também o substitui “junto ao leito da viúva”, criando os dois fi lhos do casal Cohimbra. O mais velho morre louco num hospício em Montevidéu; sendo que o filho mais novo, Adido Comercial do Uruguai em Londres, morre durante um bombardeio na cidade inglesa, durante a Segunda Guerra Mundial. Encerra-se o capítulo, apontando a proximidade das sepulturas da Mrs. Malvina Kendall de Cohimbra Garcia com a de João José, e ambas afastadas, no mesmo cemitério, da de Mr. Kendall.
Já o capítulo III, Solidões, traz, em “O Trem: Relato de Frei Esteban Cortez”, a figura do padre jesuíta que dirige e escreve no semanário católico A Cruz. Frei Esteban Cortez reconfigura a lenda do trem fantasma, usa-o para desaprovar a todos da comunidade porto-alegrense: fiéis, fazendeiros e políticos. Todos gananciosos, corruptos e pecadores. Retoma o desaparecimento dos trinta trabalhadores nas ferrovias da região de Santo Onofre, igualando-os a Dr. Fausto. Morre aos 65 anos, sem grandes amigos nem companheiros.
Sobre os cobiçosos, procurava associações bíblicas nas lendas como a do Negrinho do Pastoreio e as histórias de mártires, por exemplo, Sepé Tiaraju e Nhenguiru para maldize-los, ressaltando a ambição deles, a qual os conduziria “às labaredas rubras do inferno”.
No capítulo IV, Gastonville, “O Trem: Versão de Camilo Vaz e Viagem de Frei Esteban” apresenta história do terceiro cronista da lenda, tendo a publicado no início do século 20, no jornal A Federação. Reporta que durante a construção da via férrea de Ibiamoré teria sido encontrado um baú enterrado cheio de tesouros dos jesuítas pelos trabalhadores e o engenheiro. Pela impossibilidade de abri-lo, rumaram num trem para a cidade. Com o engenheiro e seus dois assistentes na locomotiva, os demais conseguem abrir o baú, levando a trem ao seu desaparecimento, reza a lenda.
O romance desenvolve-se mantendo essa estrutura e, assim como nas versões da lenda trazidas por Martins na narrativa, os habitantes de Ibiamoré entram no trem e desaparecem, para reaparecerem, páginas mais tarde, de uma outra forma, nas memórias de alguém. De forma geral, a narrativa de Martins fala de medo, do medo de entrar no trem e sumir; do medo do fantasma do apagamento, do esquecimento, da perda da memória, do viver sem deixar marcas. Esse, talvez o maior medo de todos nós. O medo de sumir e não deixar nada nosso para aqueles que ficam. Nenhuma contribuição à história dos outros. Isso se relaciona à necessidade das marcas, de deixar marcas, em outros ou em nós mesmos, mesmo que sejam somente marcas na memória.
Um dos narradores, Almagre, ao questionar-se sobre a veracidade de suas memórias pergunta-se: “O tempo, contudo, faz com que duvide de si mesmo. Terá sido verdade?” (1981, p. 48).
Através do romance de Martins e da vida de seus múltiplos e multifacetados narradores, somos convidados a repensar a nossa história, desde a formação do Rio Grande do Sul. Os entrecruzamentos geográficos provocados pelas malhas da narrativa são também o entrecruzamento de memórias. A memória é um lugar e suas malhas e vagões nos levam a recintos imaginados ou imaginários. O esquecimento é a contrapartida necessária da memória, do lembrar, pois esquecer pressupõe sempre a possibilidade de lembrar. Não se lembra de tudo, assim como não se esquece de tudo. Se a memória é seletiva, ou melhor dizendo, afetiva, há razões para lembrarmos e esquecermos. A relação que temos com o passado, ou com incidentes passados, nos leva ou nos traz certos elementos do passado. A esse respeito, é relevante pontuar que somente sujeitos lembram e esquecem, ou seja, têm memória.
A partir de um certo presente, Martins constrói uma narrativa. O que é ficção inventada por Martins ou o que é parte da nossa história? Não importa, pois a dissolução da história como absoluta é muito bem representada pelo desaparecimento, na língua portuguesa, da palavra estória. A aproximação de história e estória remete aos limites tênues, e talvez inexistentes, entre a ficção e o real.
A estrutura do romance Ibiamoré – o trem fantasma é bastante homogênea, apresenta-se circular e encaixante, há a cena e o cenário de abertura e de encerramento assemelhados, os quais molduram os onze capítulos, no total, com os subcapítulos, trinta e três. Na de abertura, todos, calados, se encontram em volta do fogo de chão, pois o frio os une no galpão e os impulsiona para ouvirem o velho que pega a viola e entoa a “Cantiga do folclore de Ibiamoré” (1981, p. 322), enquanto a chama da memória e da arte literária crepita na voz canora. No entanto, na cena de fechamento da obra literária, o “nós” (ouvintes, narrador e leitor) – que escutava silenciosamente o artista – retira-se. Também o contador/cantor vai silenciando o texto literário, deixando, no espaço textual, o rastro, a cinza e o carvão (cemitério ígneo) das linhas narrativas visitadas na noite de leitura/audição e de reminiscências no decorrer da andança. “Ninguém para escutar o cansaço de sua voz”, diz o romance; entretanto, a cantiga/lenda/narrativa avança no final do livro, pulando para o espírito do leitor, feito locomotiva que espiona um túnel ou que se equilibra numa ponte: “Tem um trem correndo os campos, / nos campos de Ibiamoré.” (1981, p. 331).
Todas as estações, ou capítulos da narrativa, apontam para o vazio, a solidão, o esquecimento, ou seja, a morte. Para o autor, “A fonte de Letes, o ‘esquecimento’, faz parte integrante do reino da Morte. Ter memória significa estar vivo, manter-se vivo, e contar as suas memórias lutar contra o esquecimento. Novamente, a personagem Chico Doce, que achou o amor e dele fugiu. Nas suas palavras, fugiu da mulher amada, Frederika, “pra conservar a lembrança” bela que dela tinha (1981, p. 270). Ainda, outra personagem, Madame Delorme, afirma: “Foi tolice querer reviver o passado que deveria ser lembrado somente pela memória” (1981, p. 243), ou seja, este não deveria ter sido revivido, como o padre que volta à Guanambi perdida para perceber que a cidade não existe mais, ou Chico Doce que tenta voltar para a jovem Frederika e a encontra matrona muitos anos depois, após desistir de conservar a lembrança. Todos eles são personagens atormentados pelo trem da morte e do esquecimento e assombrados por seus medos e memórias.
A formação do nome Ibiamoré, ligado ao rio Ibiá, mencionado várias vezes na narrativa, remete à vida, amor, e morte. Todos os elementos estão em uma só palavra, fazendo referência ao ciclo da vida, a nossa realidade enquanto “índios da mesma taba”, umas expressão tantas vezes usada por Martins ao longo da narrativa. Os vários narradores da lenda do trem fantasma, e de lendas quase esquecidas da região de Bagé, como a lenda da Lagoa da Música, retomadas por Martins, apontam para a necessidade de que várias histórias sejam contadas a partir de vários pontos de vista, complementares e não excludentes, para que possam ser ouvidas, e porque não, lidas. A realidade não pode ser compreendida, somente construída, a partir de vários pontos de vista.
A obra de Martins remete a luta em não esquecer, que motiva Martins e seus narradores a dirigir-se a outros e a narrarem, pois cada pessoa vê as coisas de maneira diferente. Uns veem mais outros menos. Uns veem demais enquanto outros são quase cegos. Os fatos são para sempre perdidos, pois sobram só visões recuperadas pela memória. O que nos marca, o que nos chama atenção, é o que vemos, é o que lembramos. Há uma verdade, mas é uma verdade particular, que pode ser compartilhada. Todos precisam contar a sua história. Só ela nos salva do esquecimento. Assim, devemos aceitar o convite de Martins para reler e recontar. Só isso nos salva do trem da noite, do trem da morte, do trem do esquecimento.
A paisagem vista pelas janelas da leitura – tomada em ato – cobre tempos, coxilhas e memórias que se apresentam, lançando pistas e fumaças, e sorriem como mágico seccional, distraindo a plateia com a direita para não desvendar o truque narrativo da mão esquerda. A lenda do Trem da noite surge, de súbito, alimentada na fornalha da Maria Fumaça por um gaúcho velho e cantor que passa a palavra e a ordenação das histórias e relatos aos narradores, os quais foram pesquisados e documentados pelo autor. Exatamente neste ponto, um apito surge e alerta-nos das nebulosas no escuro do sul platino e nas aventuras desta jornada que aprisiona e liberta a todos para que as páginas rumem a outros olhos no meio da noite da ação produzida no solo gaúcho, em especial, no da localidade de Ibiamoré.
O romance divide-se em 11 estações. Cada uma delas encerra uma parada e várias histórias, que se entrecruzam, apesar de os narradores muitas vezes não o saberem. O leitor é convidado a usar a sua memória, exercitá-la, a fim de criar sentido na narrativa que surge aparentemente confusa, para ajudar a construí-la. A narrativa realiza, tal como o trem, percursos variados, exigindo escolhas de nortes para orientar o passeio de leitura. Os onze capítulos, assim como os vagões, transportam histórias dos diferentes viventes e povoadores do extremo sul do Brasil, fazedor de divisas com o Uruguai e a Argentina. Cada capítulo é uma nova estação, a qual se apresentará compartimentada; sabe-se que os sujeitos semiapagados numa narrativa voltam de modo estelar e dramático na seguinte, pois essas personagens também pegarão o trem que:
Ninguém vê de onde vem,
aonde vai nem o que é.
Um trem correndo nos campos,
sem trilhos nem chaminé.
O trem fantasma encantado
dos campos de Ibiamoré. (1981, p. 15)
O cenário principal do romance seria Ibiamoré, uma região que se localizaria em um lugar indeterminado na fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. Uma fronteira imaginária no tempo e no espaço que separaria o que somos do que poderíamos ter sido. De lá o trem fantasma, ou trem da noite, partiria, sem respeitar fronteiras, passando pelas onze estações que compõem o romance. O trem cruza guerras como a guerra guaranítica e lutas por territórios; espreita-se por entre o medo do progresso e da mudança; confronta-se com preconceito e racismo. Durante o seu percurso pelas malhas da narrativa, entram e saem de cena muitas personagens e vários narradores: capitães, heróis, índios, jesuítas, espanhóis, portugueses, imigrantes, mulatos, mestiços, cronistas e até um autor. O ponto de partida remete ao fim do Império (1870-1888), época em que as primeiras locomotivas começavam a correr pelos trilhos recém-construídos no Estado do Rio Grande do Sul.
Em Ibiamoré, o trem fantasma, encontramos, porém, um tempo histórico anterior, pois surgem como personagens seguras que estariam entre os fundadores do Rio Grande do Sul, tais como Afonso Inácio, o capitão-menino, que seria o representante do português açoriano, o índio Teireté, representando a violência das guerras guaraníticas (1753-1756) e até um tal Frei Esteban Cortez, um padre jesuíta espanhol, que seria um dos primeiros a narrar a lenda do Trem Fantasma. Lendas de tempos e espaços diferentes encontram-se nas estações do romance, sugerindo que uma concepção diferente de tempo e espaço é defendida nas páginas do romance, através das vozes dos vários narradores que se dividem para dar conta da lenda do trem fantasma e de suas inúmeras versões. Se nossa identidade é também formada por nossa memória, por um determinado entrecruzar de tempo e espaço, pela história de nossa vida, a construção da identidade do gaúcho e a construção das identidades dos narradores de Martins são mostradas na obra. Os narradores funcionam como espelhos de si mesmos e de nós mesmos.
A lenda do trem
A narrativa principia com a descrição de uma cena comum a muitos gaúchos: um dia de friagem. O frio dos campos é contrastado com o calor da beira de um fogo, ao redor do qual se reúnem viventes em torno de um velho homem para ouvi-lo contar suas histórias. Ele pega sua viola e inicia a cantoria. O velho nos intima a ouvir a sua história assim como Martins nos chama para a beira do seu fogo a fim de ouvir a sua narrativa e não deixar que “o fogo de lenha ardendo no chão de terra” (1981, p. 9) se apague. Há uma clara referência à importância de contarmos histórias e de ficarmos “calados para escutar” (1981, p. 9). O valor da tradição oral da contação de histórias é reforçado, pois a perda da memória de um vivente pode converter-se na perda de memória de todos. Quem vai contar a história se o velho índio não a contar a outros? E se deixarmos o fogo se apagar? Qualquer narrativa é uma luta contra o esquecimento. A repetição, mesmo com diferença, cria lembrança. O importante é contar, contar, contar, contar repetidas vezes a mesma história até que pareça verdade ou faça sentido.
A narrativa do velho índio, e por aproximação a de Martins, oferece-se como uma tentativa de driblar o esquecimento, o apagamento da lenda do trem fantasma ou trem da noite e das lendas que formam a nossa história e a nossa identidade.
Em todas as 11 estações, repete-se uma estrutura. A estação recebe um nome e é composta por quatro partes. Na primeira, há uma narrativa sobre a lenda do trem fantasma, através de um dos seus narradores. Depois há uma parada, que recebe o nome da estação, e finalmente duas outras histórias, que recebem ou o nome de seu protagonista ou de uma localidade. Apesar de aparentemente não manterem relação com narrativas anteriores ou posteriores, acabam entrecruzando-se. De modo particular, os capítulos nominados como estações/paradas estão organizados.
No primeiro capítulo, ou estação, há um relato intitulado “O trem: a Lenda” que apresenta a lenda do trem fantasma ao leitor. Esse relato é precedido por um poema de autor sul-rio-grandense usado como epígrafe como acontece em todos os capítulos. O poema, como na maioria dos casos, é de um poeta pouco conhecido da literatura do Rio Grande do Sul; entretanto, também são usados fragmentos de obras de autores mais conhecidos como Simões Lopes Netto. No primeiro capítulo, Martins apresenta um fragmento de um poema de autoria de Alberto Ramos, poeta pelotense que viveu entre 1871 e 1941 e que hoje é pouco lembrado. O poema versa sobre a morte e a ligação entre o trem e a morte é estabelecida mais adiante:
Após explicar a lenda, o narrador apressa-se em apresentar as variantes da lenda, trazendo as razões que levariam pessoas a entrarem nesse trem do esquecimento do qual nunca mais se sairia: crianças, lindas mulheres, bebidas, festas (1981, p. 14-15). O narrador deixa claro que aqueles que no trem ingressam, esquecem-se do que está fora do trem, pois somem “da vista e da memória”, pois “nada mais existe além do trem”. (1981, p. 14)
Após esse relato, na primeira parada, é contada a história de Afonso Inácio, o capitão menino, que “lutava buscando a morte”, pois “Era menino, mas o que desejava era morrer” (1981, p. 21). Ao longo de sua vida de batalhas, questionava-se “haverá por que viver?”, assombrado por seus fantasmas, mortos, escombros e ruínas, sendo “estrangeiro ao mundo, viajando em si mesmo” (1981, p. 23). Afonso Inácio “por duas vezes sofreu o mesmo infortúnio, como se o Destino lhe houvesse traçado o passar duas vezes pelo mesmo ponto de sua existência” (1981, p. 25).
Tempo e espaço são equiparados. Assim, a narrativa de Martins estrutura-se misturando a história sul rio-grandense a mitos e ficção. Isso nos traz a questão de que a narrativa se situaria em um tempo mítico. A cada estação os trilhos se cruzam e se sobrepõem, levando os vagões da memória a estações surpreendentes. O leitor é convidado a embarcar em uma jornada guiada pelas malhas associativas dos inúmeros narradores. Todos têm a sua versão da lenda do trem fantasma. A estrutura é associativa, pois a memória, como já dito, é seletiva e associativa. Mais do que isso: a memória é afetiva. Rastros ou vestígios memoriais podem ser cartas, poemas, relatos orais, anotações, que interpolados na narrativa remetem a outro tempo ou lugar e com os quais se mantém uma memória afetiva.
A relação entre esses elementos e os narradores dá o tom aos relatos.
O capítulo II intitula-se Santa Joana e enfoca outra versão da lenda “O Trem: Relato de João José Cohimbra”. João José relata, no jornal O Mercantil, a história de um menino de 15 anos que embarca no Trem Fantasma, restando a mãe no desespero; ao final do artigo, avalia a lenda e o povo interiorano como rústico e supersticioso frente à modernidade que o novo meio de transporte que os espanta. Posteriormente, somos informados sobre a trajetória do cronista João José que, depois de retornar da Europa, casa-se, passando a residir “numa fazenda do sogro, nas cercanias de Campos Claros”. Foge, às pressas, com a esposa e o filho para o Uruguai por ter assediado a menina de 13 anos, Carlinda. Aos 43 anos, morre num desastre de trem ao sair da estância de Las Mercedes em direção a Montevidéu a fim de assistir a opera verdiana “La forza del Destino”, à qual havia assistido em Porto Alegre, na voz da italiana Angela Gattini. Seu ex-sócio Mr. John Kendall assume os negócios e também o substitui “junto ao leito da viúva”, criando os dois fi lhos do casal Cohimbra. O mais velho morre louco num hospício em Montevidéu; sendo que o filho mais novo, Adido Comercial do Uruguai em Londres, morre durante um bombardeio na cidade inglesa, durante a Segunda Guerra Mundial. Encerra-se o capítulo, apontando a proximidade das sepulturas da Mrs. Malvina Kendall de Cohimbra Garcia com a de João José, e ambas afastadas, no mesmo cemitério, da de Mr. Kendall.
Já o capítulo III, Solidões, traz, em “O Trem: Relato de Frei Esteban Cortez”, a figura do padre jesuíta que dirige e escreve no semanário católico A Cruz. Frei Esteban Cortez reconfigura a lenda do trem fantasma, usa-o para desaprovar a todos da comunidade porto-alegrense: fiéis, fazendeiros e políticos. Todos gananciosos, corruptos e pecadores. Retoma o desaparecimento dos trinta trabalhadores nas ferrovias da região de Santo Onofre, igualando-os a Dr. Fausto. Morre aos 65 anos, sem grandes amigos nem companheiros.
Sobre os cobiçosos, procurava associações bíblicas nas lendas como a do Negrinho do Pastoreio e as histórias de mártires, por exemplo, Sepé Tiaraju e Nhenguiru para maldize-los, ressaltando a ambição deles, a qual os conduziria “às labaredas rubras do inferno”.
No capítulo IV, Gastonville, “O Trem: Versão de Camilo Vaz e Viagem de Frei Esteban” apresenta história do terceiro cronista da lenda, tendo a publicado no início do século 20, no jornal A Federação. Reporta que durante a construção da via férrea de Ibiamoré teria sido encontrado um baú enterrado cheio de tesouros dos jesuítas pelos trabalhadores e o engenheiro. Pela impossibilidade de abri-lo, rumaram num trem para a cidade. Com o engenheiro e seus dois assistentes na locomotiva, os demais conseguem abrir o baú, levando a trem ao seu desaparecimento, reza a lenda.
O romance desenvolve-se mantendo essa estrutura e, assim como nas versões da lenda trazidas por Martins na narrativa, os habitantes de Ibiamoré entram no trem e desaparecem, para reaparecerem, páginas mais tarde, de uma outra forma, nas memórias de alguém. De forma geral, a narrativa de Martins fala de medo, do medo de entrar no trem e sumir; do medo do fantasma do apagamento, do esquecimento, da perda da memória, do viver sem deixar marcas. Esse, talvez o maior medo de todos nós. O medo de sumir e não deixar nada nosso para aqueles que ficam. Nenhuma contribuição à história dos outros. Isso se relaciona à necessidade das marcas, de deixar marcas, em outros ou em nós mesmos, mesmo que sejam somente marcas na memória.
Um dos narradores, Almagre, ao questionar-se sobre a veracidade de suas memórias pergunta-se: “O tempo, contudo, faz com que duvide de si mesmo. Terá sido verdade?” (1981, p. 48).
Através do romance de Martins e da vida de seus múltiplos e multifacetados narradores, somos convidados a repensar a nossa história, desde a formação do Rio Grande do Sul. Os entrecruzamentos geográficos provocados pelas malhas da narrativa são também o entrecruzamento de memórias. A memória é um lugar e suas malhas e vagões nos levam a recintos imaginados ou imaginários. O esquecimento é a contrapartida necessária da memória, do lembrar, pois esquecer pressupõe sempre a possibilidade de lembrar. Não se lembra de tudo, assim como não se esquece de tudo. Se a memória é seletiva, ou melhor dizendo, afetiva, há razões para lembrarmos e esquecermos. A relação que temos com o passado, ou com incidentes passados, nos leva ou nos traz certos elementos do passado. A esse respeito, é relevante pontuar que somente sujeitos lembram e esquecem, ou seja, têm memória.
A partir de um certo presente, Martins constrói uma narrativa. O que é ficção inventada por Martins ou o que é parte da nossa história? Não importa, pois a dissolução da história como absoluta é muito bem representada pelo desaparecimento, na língua portuguesa, da palavra estória. A aproximação de história e estória remete aos limites tênues, e talvez inexistentes, entre a ficção e o real.
A estrutura do romance Ibiamoré – o trem fantasma é bastante homogênea, apresenta-se circular e encaixante, há a cena e o cenário de abertura e de encerramento assemelhados, os quais molduram os onze capítulos, no total, com os subcapítulos, trinta e três. Na de abertura, todos, calados, se encontram em volta do fogo de chão, pois o frio os une no galpão e os impulsiona para ouvirem o velho que pega a viola e entoa a “Cantiga do folclore de Ibiamoré” (1981, p. 322), enquanto a chama da memória e da arte literária crepita na voz canora. No entanto, na cena de fechamento da obra literária, o “nós” (ouvintes, narrador e leitor) – que escutava silenciosamente o artista – retira-se. Também o contador/cantor vai silenciando o texto literário, deixando, no espaço textual, o rastro, a cinza e o carvão (cemitério ígneo) das linhas narrativas visitadas na noite de leitura/audição e de reminiscências no decorrer da andança. “Ninguém para escutar o cansaço de sua voz”, diz o romance; entretanto, a cantiga/lenda/narrativa avança no final do livro, pulando para o espírito do leitor, feito locomotiva que espiona um túnel ou que se equilibra numa ponte: “Tem um trem correndo os campos, / nos campos de Ibiamoré.” (1981, p. 331).
Todas as estações, ou capítulos da narrativa, apontam para o vazio, a solidão, o esquecimento, ou seja, a morte. Para o autor, “A fonte de Letes, o ‘esquecimento’, faz parte integrante do reino da Morte. Ter memória significa estar vivo, manter-se vivo, e contar as suas memórias lutar contra o esquecimento. Novamente, a personagem Chico Doce, que achou o amor e dele fugiu. Nas suas palavras, fugiu da mulher amada, Frederika, “pra conservar a lembrança” bela que dela tinha (1981, p. 270). Ainda, outra personagem, Madame Delorme, afirma: “Foi tolice querer reviver o passado que deveria ser lembrado somente pela memória” (1981, p. 243), ou seja, este não deveria ter sido revivido, como o padre que volta à Guanambi perdida para perceber que a cidade não existe mais, ou Chico Doce que tenta voltar para a jovem Frederika e a encontra matrona muitos anos depois, após desistir de conservar a lembrança. Todos eles são personagens atormentados pelo trem da morte e do esquecimento e assombrados por seus medos e memórias.
A formação do nome Ibiamoré, ligado ao rio Ibiá, mencionado várias vezes na narrativa, remete à vida, amor, e morte. Todos os elementos estão em uma só palavra, fazendo referência ao ciclo da vida, a nossa realidade enquanto “índios da mesma taba”, umas expressão tantas vezes usada por Martins ao longo da narrativa. Os vários narradores da lenda do trem fantasma, e de lendas quase esquecidas da região de Bagé, como a lenda da Lagoa da Música, retomadas por Martins, apontam para a necessidade de que várias histórias sejam contadas a partir de vários pontos de vista, complementares e não excludentes, para que possam ser ouvidas, e porque não, lidas. A realidade não pode ser compreendida, somente construída, a partir de vários pontos de vista.
A obra de Martins remete a luta em não esquecer, que motiva Martins e seus narradores a dirigir-se a outros e a narrarem, pois cada pessoa vê as coisas de maneira diferente. Uns veem mais outros menos. Uns veem demais enquanto outros são quase cegos. Os fatos são para sempre perdidos, pois sobram só visões recuperadas pela memória. O que nos marca, o que nos chama atenção, é o que vemos, é o que lembramos. Há uma verdade, mas é uma verdade particular, que pode ser compartilhada. Todos precisam contar a sua história. Só ela nos salva do esquecimento. Assim, devemos aceitar o convite de Martins para reler e recontar. Só isso nos salva do trem da noite, do trem da morte, do trem do esquecimento.
Fonte:
Excerto do artigo de Valéria Brisolara e Roberto Medina. Pelas malhas e vagões da memória: Uma análise de Ibiamoré, o trem fantasma. In Revista do Instituto de Letras Organon, UFRGS, n. 57, v. 29, 2014. Disponível na íntegra em pdf, https://seer.ufrgs.br/organon/article/view/48268/31800
Excerto do artigo de Valéria Brisolara e Roberto Medina. Pelas malhas e vagões da memória: Uma análise de Ibiamoré, o trem fantasma. In Revista do Instituto de Letras Organon, UFRGS, n. 57, v. 29, 2014. Disponível na íntegra em pdf, https://seer.ufrgs.br/organon/article/view/48268/31800