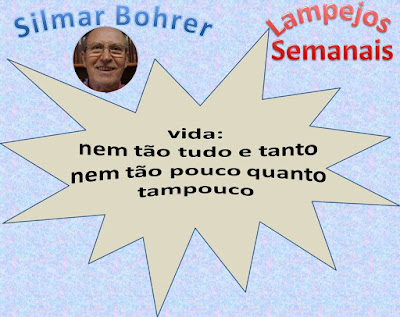A torneira ficava a cinco palmos do chão, isto é, a cem alturas da Emília. Pareceu-lhe a maior torneira do mundo.
— Em geral as torneiras de jardim não ficam bem fechadas, pensou ela, de modo que de vez em quando cai um pingo.. Lá, portanto, é provável que eu encontre água.
Emília desceu da folha de samambaia e avançou na direção da calçada. Teve a sorte de ver no chão uma folha de iúca mexicana, que o jardineiro podara na véspera e deixara caída por ali (talvez o "apequenamento" o tivesse colhido durante o trabalho.) Onde andaria o pobre jardineiro? No papo de algum passarinho, com certeza. Emília caminhou muito bem por cima da folha de iúca e assim chegou à beira da calçada sem judiar dos pezinhos na dureza das pedras.
A altura da calçada seria duns 20 centímetros, o que representava 20 alturas da Emília, de modo que ela ficou a olhar para semelhante barreira como se fosse a muralha da China. Que colosso! Como galgar tamanha escarpa? Se fosse formiga, dotada de seis patinhas, nada mais simples; naquele momento duas formigas ruivas subiam pela pedra com a mesma facilidade com que andavam no plano. Mas para um bípede de um centímetro de altura, obstáculos de um palmo são muralhas intransponíveis. Emília seguiu pela beira inferior da calçada, na esperança de encontrar um "subidor" qualquer.
Logo adiante deu com uma imensa "cobra vermelha", que descia da calçada, atravessava o pedregulho e afundava a "cabeça amarela" na grama do canteiro próximo. Emília aproximou-se cautelosamente. Viu que era o cano de borracha do jardim. Parou diante dele. Mediu-o com os olhos. Diâmetro igual a três vezes a sua altura. Se pudesse trepar e caminhar por sobre esse cano, ser-lhe-ia fácil transpor a escarpa e descer no cimento.
Por felicidade, a "cabeça-da-cobra", isto é, o esguicho de metal amarelo, afundava na grama do canteiro. Emília foi para lá, agarrou-se às folhinhas de grama e depois de várias manobras conseguiu trepar sobre a borracha. O resto foi fácil. Seguiu pelo cano até à escarpa, isto é, o ponto em que o cano subia do pedregulho à calçada. Esse trecho íngreme ela o galgou de gatinhas.
Ótimo. Estava outra vez no horizontal, em cima da calçada. Com as mãos na cintura, Emília contemplou a paisagem. Que calçada imensa, Deus do céu! Parecia o deserto do Saara.
Deixando-se escorregar do cano abaixo, encaminhou-se para a torneira. Como era gostoso andar no liso do cimento! Até deu uma corridinha.
Bem debaixo da torneira, olhou para cima. Haveria algum pingo em formação naquelas alturas? Impossível perceber. Súbito, sem aviso, um pingão, plaft! pingou em cima dela e esborrachou-a no cimento.
Que banho! Emília ficou atordoada por vários segundos. Nunca supôs que um pingo d'água pesasse tanto. Erguendo-se, bebeu, à moda dos animais, numa das pocinhas formadas pelos respingos, e aproveitou a ocasião para um banho.
— Que coisa curiosa! — exclamou enquanto se esfregava. — Estou nua e não sinto a menor vergonha. Será que isso de vergonha depende do tamanho das criaturas? Deve ser, porque entre os homens a vergonha era só para os adultos. As criancinhas novas não mostravam vergonha nenhuma nem ninguém se ofendia de vê-las nuas.
Aprendi mais essa: vergonha é coisa que depende do tamanho.
A torneira ficava perto de uma enorme escadaria de cinco degraus — a escadinha da varanda das trepadeiras. Lá no quarto degrau Emília percebeu viventes. Firmou a vista. Eram dois insetos cor-de-rosa e um preto — insetos desconhecidos e evidentemente descascados. Chegando mais perto, compreendeu tudo.
— Meu Deus do céu! Aquilo é gente!...
Era de fato gente — gentinha como ela — os donos da casa com certeza, O inseto preto seria uma tia Nastácia de lá — a cozinheira. E Emília teve assim a primeira prova provada de que o apequenamento também havia alcançado outras criaturas.
— Bom. Vou dar uma subida até lá para conversar com aqueles companheiros.
Mas havia escada, com cada degrau vinte vezes a sua altura. Ah, se aparecesse por ali a mutuca! Emília viu enorme pau caído sobre a escada e compreendeu que era a vassoura. Com certeza a negra estava passando a vassoura na varanda e no momento em que ficou pequenininha a vassoura escorregara escada abaixo e era agora o tal "enorme pau". Felizmente a palha encostava no chão, de modo que Emília pôde subir por ela até equilibrar-se em cima do pau — e lá se foi engatinhando. Ao chegar ao ponto desejado, pulou.
Quando a viram engatinhando por cima do cabo da vassoura, as criaturas do quarto degrau supuseram tratar-se dum mede-palmo; mas mede-palmo não pula, de modo que o pulinho da Emília fez que todas recuassem assustadas.
— Não tenham medo! — disse ela aproximando-se. — Também sou gente. Sou Emília, lá do sítio de Dona Benta, que fiquei pequenininha e ando em exploração pelo mundo.
— É a Emília mesmo, mamãe! — gritou um menino que também andava por ali e só então ela viu.
— Conheço os livros que falam dela. A cara é a mesma, o jeito é o mesmo. Só falta a roupinha de xadrez.
— E quem é você? — perguntou Emília.
— Sou o Juquinha. E esta é a Candoca, minha irmã — disse o menino apontando para outra criança.
— E que aconteceu por aqui?
— Não sei. Era de manhã e estávamos na mesa almoçando. De repente, uma panaria sem fim nos enleou e foi um custo para sairmos de dentro. E todas as coisas ficaram enormes — enormíssimas, como a senhora vê. A casa cresceu que não tem mais fim. Nossa roupa evaporou-se, num mistério.
Emília viu que eles não estavam compreendendo a verdadeira situação. Julgavam-se do mesmo tamanho de sempre. As coisas em redor é que haviam crescido.
— Esse senhor quem é, Juquinha? Seu pai?
— Sim, meu pai. E ali está mamãe. A criada é a tia Febrônia, nossa cozinheira. Papai perdeu a fala coitado, tamanho foi o susto, e mamãe está
muito triste com o desaparecimento de vovó.
— Como desapareceu sua avó?
— Desapareceu porque não aparece — explicou Juquinha — Depois que conseguimos nos livrar daquela inundação de pano, reunimo-nos todos embaixo da mesa — menos vovó. Até agora, nem sinal.
Emília compreendeu o caso. A pobre velha não tinha podido safar-se de dentro de suas próprias roupas, e com certeza havia morrido asfixiada. Se o apequenamento foi coisa para a humanidade inteira, então milhões de criaturas deviam ter perecido como a avó daquele menino — pela impossibilidade de saírem de dentro das próprias roupas. Nada mais claro.
— Como se chama sua mãe?
— Nonoca.
Emília dirigiu-se para Dona Nonoca, que estava chorando. Contou-lhe mil coisas, as suas aventuras no jardim, a luta com a aranha, o perigo das aves, o almocinho de mel que havia feito. A mulher chorava, chorava.
— Chorar não adianta, Dona Nonoca. O que temos de fazer é nos adaptar.
Dona Nonoca não entendeu essa palavra tão científica. Emília explicou-se.
— Adaptar-se quer dizer ajeitar-se às situações. Ou fazemos isso, ou levamos a breca. Estamos em pleno mundo biológico, onde o que vale é a força ou a esperteza. A senhora até teve muita sorte de que nenhum passarinho ou gato a visse. Como vieram parar neste degrau?
A pobre mulher contou que depois do desastre eles vieram caminhando até à varanda, para ver como tinha ficado o mundo.
— E estávamos olhando para o nosso velho jardim, transformado nesta mata gigantesca e sem fim, quando um horrível pé-de-vento nos jogou aqui.
Emília achou graça no "horrível pé-de-vento". Havia de ser aquele mesmo ventinho insignificante que a derrubara duas vezes. Conversou o que pôde com a pobre criatura e com o inseto preto. Desejava provar que nada havia crescido, eles é que haviam perdido o tamanho — mas não pôde convencer ninguém.
— Como é que sabe? — disse a negra. — Eu estou vendo tudo grande.
Emília deu todas as razões imagináveis, sem conseguir coisa nenhuma. E diante da certeza da negra e de Dona Nonoca, também ficou na dúvida.
— Será que tudo ficou grande e as criaturas estão do mesmo tamanho de sempre ou tudo está do mesmo tamanho de sempre e fomos nós que diminuímos?
Pensou, pensou, pensou. O problema era dos mais sérios. Tanto podia ser uma coisa como outra — e em ambos os casos a situação das criaturinhas era exatamente a mesma.
Aquele homem era o Major Apolinário da Silva, prefeito da cidade, cidadão muito importante. Estava agora transformado em insetinho descascado e mudo. Emília mediu-lhe a altura. Viu que tinha 4 centímetros. E como fosse muito gordo, dava a ideia duma taturana cor-de-rosa em pé.
Juquinha, o mais esperto da família, mostrava-se contente com a novidade e, ao contrário do pai, falava pelos cotovelos. Contou que antes da "ventania" ele estivera na varanda espiando a rua pelas grades de ferro do jardim, e muito estranhara não ver movimento nenhum.
— Não passou nenhum automóvel nem carroça, nem nada. Tudo paradíssimo. Um silêncio que nunca vi. Silêncio de gente, porque os passarinhos andam mais barulhentos do que nunca. Parece que se mudaram todos para a cidade.
Emília riu-se. Lembrou-se da queda de içás e siriris em outubro, quando milhões de formigas de asas saem dos formigueiros para a festa anual do banho de sol. Nesses dias o assanhamento das galinhas e passarinhos é enorme — e os papos se enchem de arrebentar. O mundo inteiro devia estar agora cheio do assanhamento das aves, diante da inesperada aparição daquela nova espécie de içás.
Emília esclareceu como pôde o caso e deu os conselhos da sua experiência.
— É preciso, primeiro — disse ela — o maior cuidado com os ventos. Qualquer ventinho nos derruba. Segundo: cuidado ainda maior com os passarinhos e as galinhas. Basta dizer que eu estou aqui, nesta terra desconhecida, justamente por causa dum simples pinto sura, que ainda ontem corria de medo de mim. Terceiro: cuidado com os buracos redondos, porque em geral têm moradores dentro e esses moradores se defendem. Em vez de buraquinhos redondos, temos de procurar vãos, fendas e outros abrigos naturais, não feitos por nenhum colega.
— Colega?
— Sim, nossos colegas são agora os bichinhos do chão e do ar.
Quarto conselho: cada um que arranje um espinho de cactos, porque se não fosse este aqui — e mostrou a sua lança — eu já estava sugada por uma aranha.
— Mas onde poderemos arranjar essa arma? — quis saber Juquinha.
— Esta encontrei perto do "violetal", no chão. Mas criaturas grandes, como seu pai, sua mãe e a tia Febrônia, podem usar alfinetes. Não há alfinetes aqui em casa?
Nesse momento um miado de gato assustou Emília. O menino, porém, e a negra fizeram cara alegre.
— É o Manchinha, disseram os dois ao mesmo tempo.
— Que Manchinha? — perguntou Emília.
— O nosso gato amarelo.
— Emília horrorizou-se. Pois então estavam com um gato ali perto e não se escondiam?
— Ele é o que há de manso — disse a boba da Febrônia. — Dormia na minha cama. Fui eu que o criei.
Oh, estupidez humana! — pensou Emília. — Será que esta gente supõe que o gato vai reconhecê-los e continuar bonzinho como era?
Explicou-lhes isso, e aconselhou-os a procurarem refúgio. Mas quem pode com a burrice de certas criaturas? Ninguém acreditou em suas palavras. Riram-se. Até o Major Apolinário riu-se — pela primeira vez depois do apequenamento.
— Você diz isso porque não conhece o Manchinha — observou Dona Nonoca. — Não há no mundo gato mais meigo.
— Mas pega camundongo?
— Isso, pega.
— E gafanhotos?
— Também pega. Ainda ontem andou atrás dum gafanhoto aí no jardim.
— E acha então que ele tem inteligência bastante para nos distinguir dum gafanhoto ou duma barata?
O Major riu-se de novo. Ele ainda estava com a "ideia de gato" própria das gentes que possuíam tamanho. Emília tentou esclarecê-lo. Explicou aquela história da "ideia filha da experiência".
— A "ideia de gato", Senhor Apolinário, vinha da nossa antiga experiência de criaturas tamanhudas em relação aos gatos. Era a ideia dum animal perigoso para ratos, baratas e gafanhotos, mas inofensivo para nós. Agora, porém, temos de reformar essa ideia, como também temos de reformar todas as ideias tamanhudas, como por exemplo, a "ideia de pinto", a "ideia de leão" e tantas outras. E quem não fizer assim está perdido.
O Major não entendeu. Era a burrice em pessoa. Achou aquele sermão com cara de "coisa de livros". Nesse momento o Manchinha miou novamente mais perto.
Emília não quis saber de mais nada. Agarrando as duas crianças correu a esconder-se numa rachadura do cimento.Foi a conta. A enorme carantonha dum gato gigantesco surgiu à porta da varanda. Miou várias vezes, como quem está aflito em procura dos donos. Depois, aproximou-se, no perigoso andar de gato que enxerga barata.
Que horrível cena! Apesar de durinha de coração, Emília arrepiou-se ao ver o meigo Manchinha, tão saudoso dos seus donos, comer sossegadamente os três insetos descascados que descobriu ali. Mas teve o cuidado de tapar com as mãos os olhos das duas crianças. Juquinha e Candoca nunca vieram a saber do trágico destino de seus pais — vítimas da "lerdeza com que sé adaptavam às novas condições de vida", conforme Emília mais tarde explicou ao Visconde.
continua…
Fonte:
Monteiro Lobato. A Chave do Tamanho.