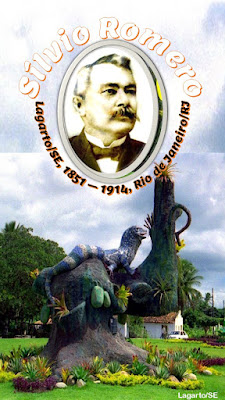Com a sua perspicácia de mulher inteligentíssima e original, Ninon de Lenclos recomendava aos maridos que não se mostrassem ciumentos sem um motivo claro, seguro, evidente, para a manifestação de tal sentimento.
"Não é com suspeitas - afirmava ela, - não é com suspeitas que se fortalece a fidelidade da mulher". E acrescentava, experiente: "Uma injúria tal, longe de a prender, enfraquece-a, familiarizando-a com sentimentos cuja só ideia devia parecer-lhe um crime. Acreditar na sua inconstância, faz com que ela se acostume a encará-la como possível, a aproximar-se mais dela. Isso só pode contribuir para que a mulher acredite ser a fidelidade um mérito, quando somente devia ser um dever."
Essas observações endereçadas a todos os maridos injustificadamente ciumentos, faziam parte, já, do meu cabedal de experiência, fornecida por um incidente que, há meses, profundamente me impressionou.
Senhora de uma formosura incomum, D. Colete abandonou o marido, arrastada pela violência do coração. Esse gesto, que poderia tê-la conduzido à miséria, à lama, à vergonha, levou-a, pelo contrário, ao esplendor e à felicidade.
O jovem capitalista que a recebera nos braços na sua queda, era considerado, e merecidamente, o homem mais rico da capital. E era a fortuna e o coração desse homem generoso, nobre, cavalheiresco, que ela via a seus pés, derretidos numa chuva de ouro, como aquela com que Júpiter fecundou, na torre de Argos, a desditosa mãe de Perseu.
Robusto, moço e riquíssimo, o ilustre capitalista não tinha motivos para temer um competidor. O seu orgulho, a consciência da sua própria situação econômica, deviam conservá-lo muito alto, acima de quaisquer temores. O coração que lhe batia no peito era, porém, medroso, covarde, infantil, e foi dominado por essa fraqueza que ele chegou, uma vez, a confessar o seu susto, dizendo à mulher amada, com o rosto nas mãos:
- Tu não imaginas, Colete, o que tem sido a minha vida, depois que vivemos juntos. Eu tenho por ti uma paixão desesperada. A minha fortuna, a minha vida, o meu destino estão nas tuas mãos. Dou-te, como tens visto, o que desejas, e dar-te-ia mais, se me pedisses. A minha felicidade é, entretanto, perturbada por um temor permanente: temor de que me deixes, susto de que me abandones, receio de que te apaixones por outro, deixando a minha companhia!
A essas palavras, tão sinceras, arrancadas do coração, a rapariga franziu a testa modelar, coroada de cabelos dourados, como quem acaba de ouvir uma novidade surpreendente. Com os cotovelos de mármore fincados na mesa de jantar, e com o rostinho de boneca, muito claro e muito lindo, pousado nas mãos de seda a sua fisionomia denunciava uma grave preocupação.
De repente, a testa se lhe vincou ainda mais, e uma pergunta aflorou, franca, ingênua, encantadora de naturalidade, na sua boquinha vermelha:
- Há, então, no Rio, outro homem mais rico do que tu?
E, intrigada, de si para si:
- “Quem será?”
Fonte> Humberto de Campos. A Serpente de Bronze. Publicado originalmente em 1925. Disponível em Domínio Público.