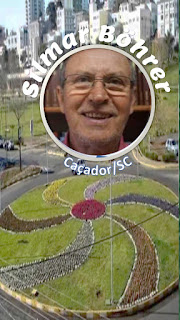Ela queria ser feliz. De qualquer maneira. Feliz! Não sabia como, nem quando, qual dia e qual hora. Ficava então, amuada, aperreada, chateada, sem chão, sem cabeça... As coisas boas não sorriam para seu lado, não ligavam para seu rosto carrancudo, tampouco para o seu eterno ar de preocupação.
Ela queria ser feliz, custasse o que custasse, não importava. Queria, apenas ser feliz. Sair fora de seu “apê”, sentar no banco de pedra em frente à portaria do seu prédio e espiar... Espiar longamente para todos os lados, e depois, para o infinito.
O céu haveria de lhe dar um sinal, um toque, dizer alguma coisa em seu ouvido que lhe fizesse ser feliz. Entretanto, entrava dia, saia noite, entrava noite, saia dia e nada. Absolutamente coisa alguma acontecia. Teria esta ausência de coisas novas a ver com a pandemia? Qual o quê!
A pandemia não estava nem aí para ela. Ela se cuidava. Usava máscaras, passava álcool em gel. Trocava toda hora de roupas, tomava de quatro a cinco banhos por dia. Nessas lavagens todas, asseava a alma, esfregava as manchas do coração, ensaboava as tristezas e deixava que tudo o que fosse de ruim e danoso se perdesse pelo ralo as suas infelicidades e ‘desalegrias’.
Então, aconteceu! A Felicidade chegou. Sorrateira, alegre, e febril, ela chegou. Sem dizer nada. Simplesmente chegou. Bateu na porta. Uma, duas, vezes. Ela abriu. E quando a porta se escancarou, seu pequeno espaço vazio se fez de um encantamento inebriante.
Seu sorriso voltou, seus olhos se contaminaram com um sorriso perfeito que invadiu toda a sua alma entristecida. Ela, até então, solitária, dentro da sua solidão oca e vazia, se transmudou.
Tudo ao seu entorno se fez de uma paz acolhedora, bonita, cativa... Envolvente... E ela, ela se abriu inteira, em festa. E a festa foi tão perfeita, tão fenomenal, que seu coração dançou a noite inteira embalada por uma música que vinha diretamente dos olhos maviosos de Deus.
Ela queria ser feliz, custasse o que custasse, não importava. Queria, apenas ser feliz. Sair fora de seu “apê”, sentar no banco de pedra em frente à portaria do seu prédio e espiar... Espiar longamente para todos os lados, e depois, para o infinito.
O céu haveria de lhe dar um sinal, um toque, dizer alguma coisa em seu ouvido que lhe fizesse ser feliz. Entretanto, entrava dia, saia noite, entrava noite, saia dia e nada. Absolutamente coisa alguma acontecia. Teria esta ausência de coisas novas a ver com a pandemia? Qual o quê!
A pandemia não estava nem aí para ela. Ela se cuidava. Usava máscaras, passava álcool em gel. Trocava toda hora de roupas, tomava de quatro a cinco banhos por dia. Nessas lavagens todas, asseava a alma, esfregava as manchas do coração, ensaboava as tristezas e deixava que tudo o que fosse de ruim e danoso se perdesse pelo ralo as suas infelicidades e ‘desalegrias’.
Então, aconteceu! A Felicidade chegou. Sorrateira, alegre, e febril, ela chegou. Sem dizer nada. Simplesmente chegou. Bateu na porta. Uma, duas, vezes. Ela abriu. E quando a porta se escancarou, seu pequeno espaço vazio se fez de um encantamento inebriante.
Seu sorriso voltou, seus olhos se contaminaram com um sorriso perfeito que invadiu toda a sua alma entristecida. Ela, até então, solitária, dentro da sua solidão oca e vazia, se transmudou.
Tudo ao seu entorno se fez de uma paz acolhedora, bonita, cativa... Envolvente... E ela, ela se abriu inteira, em festa. E a festa foi tão perfeita, tão fenomenal, que seu coração dançou a noite inteira embalada por uma música que vinha diretamente dos olhos maviosos de Deus.
Fonte:
Texto enviado por Aparecido R. De Souza
Texto enviado por Aparecido R. De Souza