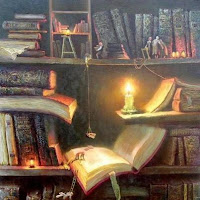Data: 19 de setembro de 2012 (quarta-feira), às 19 horas.
Local: Casa das Rosas (Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura).
Endereço: Av. Paulista, 37 (Metrô Brigadeiro) - São Paulo/SP - Brasil. Entrada franca.
Precedendo à sessão de autógrafos, haverá uma Mesa Redonda sobre o tema "LITERATURA, GENIALIDADE E LOUCURA". Integrantes da Mesa: o autor Edson Amâncio (neurocientista, especialista em transtornos da mente, integrante do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e escritor), Ademir Demarchi (poeta e crítico, doutor em Literatura Brasileira pela USP e editor da revista "Babel Poética"), Fábio Lucas (professor, crítico e escritor) e Flávio Viegas Amoreira (escritor, crítico e jornalista). Mediador: Nicodemos Sena (escritor e editor).
ACERCA DO ROMANCE "DIÁRIO DE UM MÉDICO LOUCO"
São já célebres as reflexões de Foucault sobre a relação da escrita com a loucura que, a partir do século XIX, como que governa os textos motivando a liberação do escritor da necessidade de ter uma relação social, podendo ele derramar-se em busca de seus limites, assunto que é explorado à exaustão por Blanchot, com quem Foucault dialoga.
A liberação do texto de qualquer amarra possibilitou, por sua vez, a entrega dos escritores não apenas à loucura do texto, mas à expressão de sua loucura no texto, a ponto de Doctorow ter se saído com uma interessante síntese segundo a qual “escrever é uma forma socialmente aceita de esquizofrenia”.
Este Diário de um médico louco é, pois, justamente, um relato que se monta sobre essas questões, ganhando ares de uma confissão de algo há muito contido, que supostamente teria levado à demência e que move a escrita, de modo a que o narrador se transforme de médico em escritor com sua fantasia de ser socialmente aceito como tal e com todos os seus defeitos e supostos crimes praticados.
Num primeiro plano, temos um narrador médico que apresenta um colega que lhe deixou um diário, esse que se lerá. Esse narrador é comedido e não tece comentários sobre o colega, mas o que descreve dele com uma aparente frieza clínica não soa normal aos olhos de um leitor arguto. E é isso que se constatará a seguir: o relato de um louco que soa como uma câmara de ecos, que é a própria ordem da literatura contemporânea. Não à toa o autor deste livro o começa com um dos clichês da literatura, ou seja, com um narrador que informa que recebeu de outro um relato que não é dele e em seguida é esse outro que passa a narrar o que se vai ler.
A partir dessa introdução a ressonância a temas caros à literatura e à vida de outros escritores, assim como aos textos deles, vai se imiscuindo no texto em cornucópia, consubstanciando a tal câmara de ecos, e assim nele passamos a ler através do médico louco os modos próprios de sua profissão, sobre como se forma um louco com direito a um batismo de fanatismo religioso, extraterrestres, autores como Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Camus, Walser, Freud e Jung, Guimarães Rosa, Cervantes, e os preferidos de Edson Amâncio, os russos, como Dostoiévski, Gógol, Pushkin, cuja parte do diário, sobre uma viagem à Rússia, é o ponto alto do livro.
O diário tenta transmitir uma “verdade”, um relato de algo que existiu, mas que, para o leitor, o tempo todo vai se colocando, de fato, como seguidos falseamentos. A dúvida, assim, perpassa a leitura, afinal em nada se pode compactuar com o narrador, pois as viagens que relata, uma delas à Rússia de Dostoiévski, podem ser totalmente falsas, uma vez que fantasias, delírios de um louco que não saiu do entorno de seu quarto, para mencionar Maistre. Desse quarto ele vê as estrelas e o mar de Santos, ironizado nas entrelinhas, e pode, através dos livros, ir à Rússia, tal como quem o lê vai...
O aviso disso parece notório já no início do diário, quando o narrador, continuando sua autobiografia, faz um relato de veterano de guerra, típico das literaturas pós-guerras mundiais, para nós familiares, de tanto que já os lemos. Ocorre, porém, que esse fragmento inserido no texto imediatamente se desmonta quando o narrador informa que deixou a TV ligada... Ou seja, como se trata do relato de um louco, não somente a TV está ligada ecoando a cultura de massas em todas as suas possibilidades, mas, na esquizofrenia de eus, a própria literatura e a biblioteca de Babel que vai se presentificando nos autores mencionados, consubstanciando a loucura no texto, bem como a loucura do texto, que é a própria literatura. (Obs: Texto de orelhas escrito pelo crítico Ademir Demarchi, doutor em Literatura Brasileira pela USP-Universidade de São Paulo).
Local: Casa das Rosas (Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura).
Endereço: Av. Paulista, 37 (Metrô Brigadeiro) - São Paulo/SP - Brasil. Entrada franca.
Precedendo à sessão de autógrafos, haverá uma Mesa Redonda sobre o tema "LITERATURA, GENIALIDADE E LOUCURA". Integrantes da Mesa: o autor Edson Amâncio (neurocientista, especialista em transtornos da mente, integrante do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e escritor), Ademir Demarchi (poeta e crítico, doutor em Literatura Brasileira pela USP e editor da revista "Babel Poética"), Fábio Lucas (professor, crítico e escritor) e Flávio Viegas Amoreira (escritor, crítico e jornalista). Mediador: Nicodemos Sena (escritor e editor).
ACERCA DO ROMANCE "DIÁRIO DE UM MÉDICO LOUCO"
São já célebres as reflexões de Foucault sobre a relação da escrita com a loucura que, a partir do século XIX, como que governa os textos motivando a liberação do escritor da necessidade de ter uma relação social, podendo ele derramar-se em busca de seus limites, assunto que é explorado à exaustão por Blanchot, com quem Foucault dialoga.
A liberação do texto de qualquer amarra possibilitou, por sua vez, a entrega dos escritores não apenas à loucura do texto, mas à expressão de sua loucura no texto, a ponto de Doctorow ter se saído com uma interessante síntese segundo a qual “escrever é uma forma socialmente aceita de esquizofrenia”.
Este Diário de um médico louco é, pois, justamente, um relato que se monta sobre essas questões, ganhando ares de uma confissão de algo há muito contido, que supostamente teria levado à demência e que move a escrita, de modo a que o narrador se transforme de médico em escritor com sua fantasia de ser socialmente aceito como tal e com todos os seus defeitos e supostos crimes praticados.
Num primeiro plano, temos um narrador médico que apresenta um colega que lhe deixou um diário, esse que se lerá. Esse narrador é comedido e não tece comentários sobre o colega, mas o que descreve dele com uma aparente frieza clínica não soa normal aos olhos de um leitor arguto. E é isso que se constatará a seguir: o relato de um louco que soa como uma câmara de ecos, que é a própria ordem da literatura contemporânea. Não à toa o autor deste livro o começa com um dos clichês da literatura, ou seja, com um narrador que informa que recebeu de outro um relato que não é dele e em seguida é esse outro que passa a narrar o que se vai ler.
A partir dessa introdução a ressonância a temas caros à literatura e à vida de outros escritores, assim como aos textos deles, vai se imiscuindo no texto em cornucópia, consubstanciando a tal câmara de ecos, e assim nele passamos a ler através do médico louco os modos próprios de sua profissão, sobre como se forma um louco com direito a um batismo de fanatismo religioso, extraterrestres, autores como Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Camus, Walser, Freud e Jung, Guimarães Rosa, Cervantes, e os preferidos de Edson Amâncio, os russos, como Dostoiévski, Gógol, Pushkin, cuja parte do diário, sobre uma viagem à Rússia, é o ponto alto do livro.
O diário tenta transmitir uma “verdade”, um relato de algo que existiu, mas que, para o leitor, o tempo todo vai se colocando, de fato, como seguidos falseamentos. A dúvida, assim, perpassa a leitura, afinal em nada se pode compactuar com o narrador, pois as viagens que relata, uma delas à Rússia de Dostoiévski, podem ser totalmente falsas, uma vez que fantasias, delírios de um louco que não saiu do entorno de seu quarto, para mencionar Maistre. Desse quarto ele vê as estrelas e o mar de Santos, ironizado nas entrelinhas, e pode, através dos livros, ir à Rússia, tal como quem o lê vai...
O aviso disso parece notório já no início do diário, quando o narrador, continuando sua autobiografia, faz um relato de veterano de guerra, típico das literaturas pós-guerras mundiais, para nós familiares, de tanto que já os lemos. Ocorre, porém, que esse fragmento inserido no texto imediatamente se desmonta quando o narrador informa que deixou a TV ligada... Ou seja, como se trata do relato de um louco, não somente a TV está ligada ecoando a cultura de massas em todas as suas possibilidades, mas, na esquizofrenia de eus, a própria literatura e a biblioteca de Babel que vai se presentificando nos autores mencionados, consubstanciando a loucura no texto, bem como a loucura do texto, que é a própria literatura. (Obs: Texto de orelhas escrito pelo crítico Ademir Demarchi, doutor em Literatura Brasileira pela USP-Universidade de São Paulo).
O AUTOR
Edson Amâncio nasceu a primeiro de janeiro de 1948, em Sacramento-MG, e vive em São Paulo. Pertence à nobre estirpe de escritores (infelizmente em extinção) da qual fazem parte Machado de Assis (Quincas Borba, O Alienista), Graciliano Ramos (Angústia), Dyonelio Machado (Os ratos, O louco do Cati) e Dostoiévski (Notas do subsolo, Memórias da casa dos mortos). Graduado, mestre e doutor em Medicina, Edson Amâncio integra o corpo clínico do Hospital Albert Einstein (São Paulo). Como cientista, tem estabelecido ‘pontes’ entre Ciência e Arte, as duas fronteiras de resistência da civilização ao declínio e à barbárie. Quer como neurocientista, quer como ficcionista, realiza uma profunda e incisiva prospecção nos “modos difusos da Alma”. Ao debruçar-se sobre casos de transtornos mentais à que foram acometidos artistas e celebridades, deteve-se sobre a vida de Fiodor Dostoiévski, que sofria de epilepsia, levando-o tal interesse a visitar a ex-União Soviética, em busca de novas informações sobre o caso, bem como a vasculhar indícios de possíveis influências da doença no estilo denso e muitas vezes delirante com que o inigualável escritor russo vazou a sua vasta e polifônica obra, marcada por personagens desconcertantes e situações carregadas de absurdo e dramaticidade, terminando por se tornar Edson Amâncio, quer do ponto de vista da ciência médica, quer nos aspectos estritamente literários, um dos maiores especialistas na vida e na obra do magnífico autor de Os Irmãos Karamázovi, considerado pelo pai da Psicanálise, Sigmund Freud, a "maior obra da história". Dessa trajetória através dos terrenos áridos e sombrios da psique humana e da alta literatura resultaram os assuntos e também o estilo denso e perquiritório utilizados por Edson Amâncio no "Diário de um médico louco".
Edson Amâncio fez sua estreia literária com os contos de Em pleno delito (1986), vindo a seguir Cruz das almas (romance, 1988), Pergunte ao mineiro (crônicas, 1995) e Minha cara impune (romance, 1997), que obtiveram excelente recepção por parte da crítica especializada. O reconhecimento do público, entretanto, só chegou com a obra O homem que fazia chover e outras histórias inventadas pela mente (2006), na qual discorre sobre as ligações ainda obscuras entre distúrbios psíquicos e genialidade e comentam-se casos clínicos bizarros de pacientes comuns e de mestres como John Nash, Bill Gates, Mozart, Van Gogh, Flaubert, Machado de Assis e Virginia Woolf.
SAIBA MAIS: http://www.letraselvagem.com.br/pagina.asp?id=244
Fonte:
Letra Selvagem
Edson Amâncio nasceu a primeiro de janeiro de 1948, em Sacramento-MG, e vive em São Paulo. Pertence à nobre estirpe de escritores (infelizmente em extinção) da qual fazem parte Machado de Assis (Quincas Borba, O Alienista), Graciliano Ramos (Angústia), Dyonelio Machado (Os ratos, O louco do Cati) e Dostoiévski (Notas do subsolo, Memórias da casa dos mortos). Graduado, mestre e doutor em Medicina, Edson Amâncio integra o corpo clínico do Hospital Albert Einstein (São Paulo). Como cientista, tem estabelecido ‘pontes’ entre Ciência e Arte, as duas fronteiras de resistência da civilização ao declínio e à barbárie. Quer como neurocientista, quer como ficcionista, realiza uma profunda e incisiva prospecção nos “modos difusos da Alma”. Ao debruçar-se sobre casos de transtornos mentais à que foram acometidos artistas e celebridades, deteve-se sobre a vida de Fiodor Dostoiévski, que sofria de epilepsia, levando-o tal interesse a visitar a ex-União Soviética, em busca de novas informações sobre o caso, bem como a vasculhar indícios de possíveis influências da doença no estilo denso e muitas vezes delirante com que o inigualável escritor russo vazou a sua vasta e polifônica obra, marcada por personagens desconcertantes e situações carregadas de absurdo e dramaticidade, terminando por se tornar Edson Amâncio, quer do ponto de vista da ciência médica, quer nos aspectos estritamente literários, um dos maiores especialistas na vida e na obra do magnífico autor de Os Irmãos Karamázovi, considerado pelo pai da Psicanálise, Sigmund Freud, a "maior obra da história". Dessa trajetória através dos terrenos áridos e sombrios da psique humana e da alta literatura resultaram os assuntos e também o estilo denso e perquiritório utilizados por Edson Amâncio no "Diário de um médico louco".
Edson Amâncio fez sua estreia literária com os contos de Em pleno delito (1986), vindo a seguir Cruz das almas (romance, 1988), Pergunte ao mineiro (crônicas, 1995) e Minha cara impune (romance, 1997), que obtiveram excelente recepção por parte da crítica especializada. O reconhecimento do público, entretanto, só chegou com a obra O homem que fazia chover e outras histórias inventadas pela mente (2006), na qual discorre sobre as ligações ainda obscuras entre distúrbios psíquicos e genialidade e comentam-se casos clínicos bizarros de pacientes comuns e de mestres como John Nash, Bill Gates, Mozart, Van Gogh, Flaubert, Machado de Assis e Virginia Woolf.
SAIBA MAIS: http://www.letraselvagem.com.br/pagina.asp?id=244
Fonte:
Letra Selvagem