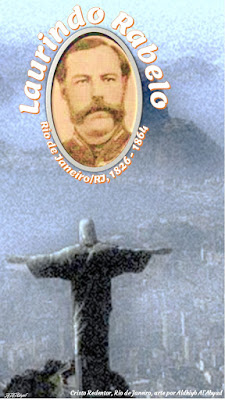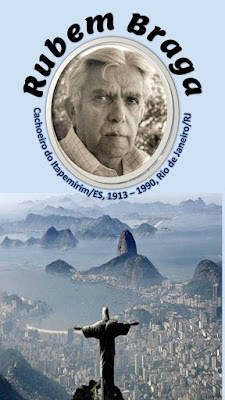As palavras com *, estão no glossário ao final do texto.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Zé Lopes olhou desolado a imensidão líquida, inspirou profundamente, fazendo aquele gesto tipicamente latino de botar as mãos na cintura, apertar os olhos e balançar a cabeça... Realmente, para ele nada restava, a não ser arribar.
Equilibrado precariamente na cerca meio submersa, ele contemplava aquele cenário triste, sentindo um nó apertar-lhe a garganta. É que a enchente chegara!
Do seu terreno de várzea conseguido à custa de suor e privações, sobrara a copa dos igapós*, o caule retorcido das mungubeiras*, os vestígios da roça perdida. Zé previra a enchente e sabia do seu tamanho. Achara ovos de uruá* no alto do mourão que fincara para amarrar a montaria. O patinho d´água com seu canto agourento não calara durante todo o verão e a lua estivera sempre tombada para o lado esquerdo no dia de Ano Novo. Nada, portanto, era surpresa.
Os boatos iam e vinham. Falavam de fortes chuvas lá pras bandas do Acre e o sol teimando em permanecer aberto sobre um tal de Andes (?) derretendo muito gelo. Ele lembrava bem o dia em que fora buscar as vacas no pasto, a ventania espalhando a cabeleira dourada do taripucú*, quando tudo ainda era alegria e tranquilidade. Voltou com uma preocupação: o espraguejado do acauã*, peito estufado no alto do paricazeiro, cantava compulsivamente, chamando o aguaceiro.
 Zé improvisou a maromba*. Esta lhe valeu a salvação das minguadas reses, ao todo, meia dúzia de vacas macilentas e um trôpego mamote*. Do pangaré sobrou a ossada no campo, transmudando-se em fogo-fátuo, abatido pelo ataque traiçoeiro da surucucu*. O que lhe restava estava ali, um lote esquálido e faminto, olhando esperançoso a premembeca* que flutuava descendo o Amazonas em ponto morto. Não havia como salvá-las.
Zé improvisou a maromba*. Esta lhe valeu a salvação das minguadas reses, ao todo, meia dúzia de vacas macilentas e um trôpego mamote*. Do pangaré sobrou a ossada no campo, transmudando-se em fogo-fátuo, abatido pelo ataque traiçoeiro da surucucu*. O que lhe restava estava ali, um lote esquálido e faminto, olhando esperançoso a premembeca* que flutuava descendo o Amazonas em ponto morto. Não havia como salvá-las.
O capim rareava e o tempo perdido em conseguir alguns peixes, fisgados ao fio da correnteza e trazidos na surrada igarité*, tirava-lhe a chance de socorrer a própria família. Esta, coitada, nem era bom pensar. O assoalho do barraco fora suspenso e eles andavam curvados, espremidos entre o teto de palha e o chão de pranchas de paxiúba*, vivendo o seu dia a dia miserável e ignorante, aferrados à reza diária e confortadora.
Nada obstante, Zé Lopes os amava. Sua mulher, a outrora “ajeitada” Joana, estava transformada pela gravidez, enjoando constantemente. A parteira já dera seu veredito: “Daqui a três meses, mais um curumim* vai chegar, se Deus quiser”. Zé ficou matutando que seria mais um para chorar de fome, como as outras três irmãs e o irmão. Joana, mesmo levando a tiracolo a imensa barriga (seriam gêmeos?), rebocando nas saias as cuiantãs* truíras e seminuas, era um braço com que ele sempre contava. Bem ou mal, nunca lhe faltara disposição para cuidar da chepa, remendar a roupa, preparar o glorioso caribé*e até dar um adjutório na estrovação do anzol, no preparo do espinhel*
Zé sentiu-se só, jogado naquela beira de rio, sem dinheiro, sem terra, sem remédios, quase sem comida e sem esperança.
Sem esperança? Não era então essa que morre por último? Por que iria perdê-la quando mais dela precisava, único bem que o gigantesco rio lhe poupara? Crispou a face com expressão determinada: jamais cairia sem lutar, nem permitiria aos vizinhos surpreendê-lo derrotado, no fundo do poço! Já demonstrara sua garra no cabo do terçado*, quando transformara em pasto a capoeira brava, reduzindo-a a pó nas cinzas da coivara*; sentindo na pele a inclemência do sol e das terríveis formigas de fogo brotadas das manhouranas. Iria mudar de vida.
Ainda era novo e poderia recomeçar de modo menos sofrido, labutar em algo que não fosse o permanente recomeçar permeado de medo e sobressalto. Aquilo – benza Deus – não era vida para cristão! Já bastava a lembrança da descomunal cheia de 1953, que de uma chuvinha besta virou um toró de mais de um mês, inundou os tesos, devastou os rebanhos e fez caboclo virar pedinte na cidade. E o que dizer daquela de 2009, o maior dilúvio que a Amazônia vivenciou nos últimos 50 anos?
Quem dera fosse todo o tempo verão! Zé apertava os olhos para ver como num filme a fartura de frutas, os ovos de tracajá*, o leite fresquinho, o piracuí* e o peixe abundante. Pasto nativo sobrando para o gado, a perder de vista. Mas aí vinha o inverno, o inverno trazia a cheia, a cheia trazia a fome, a fome trazia as dívidas. Porém seria aquele, o último ano de penúria. Um plano ousado teimava em sua cabeça. E se não desse certo? Mas daria, tinha que dar...
Caso o aguaceiro deixasse, venderia suas reses para o primeiro marchante, depois do reparador pasto da vazante. Aquele terreno provavelmente perderia, pois o banco, tão solícito na hora de emprestar a grana, não contemporiza com quem deve. Todo banco, oficial ou particular, realiza-se plenamente quando o cliente se torna escravo de sua própria dívida. Mas tudo bem. Talvez só com o dinheiro do gado... Era com esse dinheiro que faria o “milagre”.
A menos de uma hora de viagem de barco estava Óbidos e ali certamente acharia trabalho. O mesmo podia pensar de Santarém, distante umas oito horas rio abaixo. Nunca se imaginara naquela vida de cidade. Seria custoso partilhar seu espaço com carros, ter que andar todo tempo de sapato, aguentar o barulho do molecório próximo aos colégios e, acima de tudo, o suplício de saber que a parede de sua casa é também a parede do vizinho.
Ainda por cima, teria que pagar luz e água, principalmente esta, que no momento o Amazonas lhe impunha abundante e de graça. Em contrapartida, naqueles mesmos colégios barulhentos seus filhos poderiam estudar, aprender ao menos a escrever o nome. Sua Joana poderia lavar roupa de algum “barão” e quanto a ele... bem, ele acharia trabalho, disposição não lhe faltava; quem sabe fazendo carreto ou como braçal da prefeitura, na capinação de rua, agora que a lida com a juta e a castanha tinha fracassado e emprego andava vasqueiro*.
Em Óbidos, bem que tentou arranjar emprego no dia do Círio de Sant’Ana*, quando falou com o deputado que estivera em sua casa no ano anterior mendigando voto para se reeleger, prometendo-lhe mundos e fundos. O pilantra fez que não o conheceu, desconversou, disse que não podia ajudar, que nem mesmo se lembrava dele. Ficou arrasado.
O certo é que seu compadre Manoel, conhecido nas arpoações de pirarucu como “Manduca Mãe do Sono”, estava feliz da vida vivendo por lá, fazendo não se sabe bem o quê, ele e seu filho mais velho de 13 anos, que de tanto estudar ficou bamba na tabuada e já dava “quinau” em gente grande, sem ligar para enchente, gado ou fome. E olha que o Manduca, salvo sua disposição como pescador, era até meio indigno para outras tarefas, tanto que entre uma e outra tarrafeação*, vivia escornado pelos cantos tirando uma pestana, daí o apelido. Há dois anos ele abandonara a várzea, foi pra cidade e nunca mais pensou em voltar. Se com aquele desinfeliz dorminhoco dera certo, por que não daria com ele, que não enjeitava serviço?
Lá no bairro da Cidade Nova, que o prefeito da época criou para moradia de gente pobre, aterrando impiedosamente o Igarapé do Juncal, compraria uma barraca. Depois levaria a família, trabalharia que nem jumento de verdureiro, mas educaria os filhos. Seu caçula – que ainda estava na barriga – não iria sofrer como os outros. Seria livre para brincar em terra firme, longe das cobras, das sanguessugas e das dolorosas mordidas das formigas tracuás*. Olhou novamente a cidade, na contraluz da tarde que se findava.
As torres da Catedral de Sant’Ana, como que espetando o céu, faziam redobrar sua fé da padroeira, a quem dirigiu muda e emocionada súplica. Concordasse ou não Joana, aquele plano tinha que ser tentado. Fugir para a cidade para não morrer à míngua, era a saída que lhe restava. Olhou sua própria imagem refletida na água. Vestia andrajos. Haveria de dar certo...
Por entre a chiadeira asmática do velho rádio de pilha, outro salvado da enchente que já lhe arrebatara a parabólica, distinguiu os suaves acordes da Ave-Maria, inspirando a quietude das seis horas. Tornou a olhar e viu Joana aproximar-se, andar arrastado, escolhendo aonde pisar no precário madeirame. Notou algo estranho naquela fisionomia abatida que um dia achara bela. Alguma coisa de anormal acontecera.
– Zé, meu velho, os meninos tão com febre alta e o corpo sarapintado. Acho que é catapora. Antes que esta maldita enchente mate, vende as nossas vacas para que a gente cuide deles...
Zé Lopes ficou cabisbaixo. Esmagado por mais aquele imprevisto, torturado pela ideia de permanecer naquele tijuco* sabe-se lá por quanto tempo mais, deixou escapar um suspiro profundo. Levantou-se, olhou em torno como que procurando alguma coisa e meio vacilante tomou o rumo da barraca, na qual entrou praticamente agachado, espremido entre a ponte tortuosa e o beiral superior da porta. Que m... de vida, pensou!
=======================
Glossário:
ACAUÃ = ave falconiforme com cerca de 47 cm de comprimento, plumagem amarelo-creme, dorso escuro, com faixa negra, que se estende até a nuca, e cauda negra, barrada de branco. Seu canto, emitido no crepúsculo e ao alvorecer, é considerado mal-agourado e prenunciador de chuvas.
CARIBÉ = alimento líquido, cujo ingrediente primeiro é a farinha de mandioca. Inventado pelos caboclos da Amazônia paraense que atribuem ao alimento carga curativa, sendo capaz então, de fortificar, sustentar e restabelecer aqueles sujeitos que por ventura tenham sido acometidos por alguma enfermidade.
DIA DE CÍRIO DE SANT’ANA – festa religiosa no 2º Domingo do mês de julho e marca “o início dos festejos de Nossa Senhora Sant'Ana”, Padroeira da Diocese e da Paróquia de Óbidos.
COIVARA =galharia e troncos derrubados pelas cheias e que descem os rios.
CUIANTÃ = moça, mulher jovem.
CURUMIM = garoto, menino.
ESPINHEL = artefato para pesca de fundo composto de uma linha forte e comprida com várias linhas curtas presas a ela, a intervalos regulares, cada uma com um anzol na ponta.
IGAPÓS = vegetação baixa e uniforme da floresta amazônica, pobre em espécies, com árvores afastadas.
IGARITÉ = embarcação cargueira do Amazonas com capacidade até 2 t.
MAMOTE = filhote crescido que ainda mama.
MAROMBA = cabo de aço ou de fibra vegetal, suspenso de uma margem à outra de um curso de água, sobre o qual os tripulantes das embarcações de travessia exercem tração manual para fazê-las deslocar
MUNGUBEIRA = árvore de até 25 m de folhas compostas, flores eretas e frutos capsulares, com paina fina e pardacenta; Nativa da Amazônia, é usada para a extração de celulose e de fibras para cordoaria.
PAXIÚBA = palmeira de até 20 m do Amazonas e outros estados e países da região, especialmente em áreas alagadas, com características raízes-escoras, estipe fino e anelado, folhas pinadas e frutos ovoides, amarelo-avermelhados, cuja madeira é usada pela população ribeirinha para a confecção de bengalas e tabuados, e pelos indígenas para a confecção de arcos, flechas e lanças.
PIRACUÍ = iguaria feita de peixe seco em pó.
PREMEMBECA = tipo de capim que forma grandes aglomerados ao longo dos rios e em suas várzeas.
SURUCUCU = serpente venenosa de grande porte, pode alcançar 2 m ou mais de comprimento, e apresenta colorido marrom-amarelado com grandes manchas triangulares pretas. É a maior serpente venenosa da América do Sul.
TARIPUCÚ = espécie de capim.
TARRAFEAÇÃO = puxar boi pelo rabo para derrubar.
TERÇADO = facão grande.
TIJUCO – lugar de solo mole, charco, pântano.
TRACAJÁ = tartaruga de água doce encontrada nos rios amazônicos, com cerca de 50 cm de comprimento, carapaça abaulada, pardo-escura, e cabeça com manchas alaranjadas. Os ovos, colocados nas praias dos rios, são apreciados pelo povo amazônico.
TRACUÁS = formigas da Amazônia, que vive em cupinzeiros arborícolas abandonados e forma colônias numerosas. É agressiva e solta cheiro forte quando esmagada.
URUÁ = palmeira de até 20 m, nativa do Amazonas, de estirpe anelado, folhas verde-reluzentes e frutos drupáceos
VASQUEIRO = difícil de conseguir, de encontrar.
Fonte:
Texto e foto da cheia enviado pelo autor, de seu livro “Um pouco de muitas histórias”. 1. Edição. Editora TrêsC, 2016, pág. 81/85.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Zé Lopes olhou desolado a imensidão líquida, inspirou profundamente, fazendo aquele gesto tipicamente latino de botar as mãos na cintura, apertar os olhos e balançar a cabeça... Realmente, para ele nada restava, a não ser arribar.
Equilibrado precariamente na cerca meio submersa, ele contemplava aquele cenário triste, sentindo um nó apertar-lhe a garganta. É que a enchente chegara!
Do seu terreno de várzea conseguido à custa de suor e privações, sobrara a copa dos igapós*, o caule retorcido das mungubeiras*, os vestígios da roça perdida. Zé previra a enchente e sabia do seu tamanho. Achara ovos de uruá* no alto do mourão que fincara para amarrar a montaria. O patinho d´água com seu canto agourento não calara durante todo o verão e a lua estivera sempre tombada para o lado esquerdo no dia de Ano Novo. Nada, portanto, era surpresa.
Os boatos iam e vinham. Falavam de fortes chuvas lá pras bandas do Acre e o sol teimando em permanecer aberto sobre um tal de Andes (?) derretendo muito gelo. Ele lembrava bem o dia em que fora buscar as vacas no pasto, a ventania espalhando a cabeleira dourada do taripucú*, quando tudo ainda era alegria e tranquilidade. Voltou com uma preocupação: o espraguejado do acauã*, peito estufado no alto do paricazeiro, cantava compulsivamente, chamando o aguaceiro.
 Zé improvisou a maromba*. Esta lhe valeu a salvação das minguadas reses, ao todo, meia dúzia de vacas macilentas e um trôpego mamote*. Do pangaré sobrou a ossada no campo, transmudando-se em fogo-fátuo, abatido pelo ataque traiçoeiro da surucucu*. O que lhe restava estava ali, um lote esquálido e faminto, olhando esperançoso a premembeca* que flutuava descendo o Amazonas em ponto morto. Não havia como salvá-las.
Zé improvisou a maromba*. Esta lhe valeu a salvação das minguadas reses, ao todo, meia dúzia de vacas macilentas e um trôpego mamote*. Do pangaré sobrou a ossada no campo, transmudando-se em fogo-fátuo, abatido pelo ataque traiçoeiro da surucucu*. O que lhe restava estava ali, um lote esquálido e faminto, olhando esperançoso a premembeca* que flutuava descendo o Amazonas em ponto morto. Não havia como salvá-las.O capim rareava e o tempo perdido em conseguir alguns peixes, fisgados ao fio da correnteza e trazidos na surrada igarité*, tirava-lhe a chance de socorrer a própria família. Esta, coitada, nem era bom pensar. O assoalho do barraco fora suspenso e eles andavam curvados, espremidos entre o teto de palha e o chão de pranchas de paxiúba*, vivendo o seu dia a dia miserável e ignorante, aferrados à reza diária e confortadora.
Nada obstante, Zé Lopes os amava. Sua mulher, a outrora “ajeitada” Joana, estava transformada pela gravidez, enjoando constantemente. A parteira já dera seu veredito: “Daqui a três meses, mais um curumim* vai chegar, se Deus quiser”. Zé ficou matutando que seria mais um para chorar de fome, como as outras três irmãs e o irmão. Joana, mesmo levando a tiracolo a imensa barriga (seriam gêmeos?), rebocando nas saias as cuiantãs* truíras e seminuas, era um braço com que ele sempre contava. Bem ou mal, nunca lhe faltara disposição para cuidar da chepa, remendar a roupa, preparar o glorioso caribé*e até dar um adjutório na estrovação do anzol, no preparo do espinhel*
Zé sentiu-se só, jogado naquela beira de rio, sem dinheiro, sem terra, sem remédios, quase sem comida e sem esperança.
Sem esperança? Não era então essa que morre por último? Por que iria perdê-la quando mais dela precisava, único bem que o gigantesco rio lhe poupara? Crispou a face com expressão determinada: jamais cairia sem lutar, nem permitiria aos vizinhos surpreendê-lo derrotado, no fundo do poço! Já demonstrara sua garra no cabo do terçado*, quando transformara em pasto a capoeira brava, reduzindo-a a pó nas cinzas da coivara*; sentindo na pele a inclemência do sol e das terríveis formigas de fogo brotadas das manhouranas. Iria mudar de vida.
Ainda era novo e poderia recomeçar de modo menos sofrido, labutar em algo que não fosse o permanente recomeçar permeado de medo e sobressalto. Aquilo – benza Deus – não era vida para cristão! Já bastava a lembrança da descomunal cheia de 1953, que de uma chuvinha besta virou um toró de mais de um mês, inundou os tesos, devastou os rebanhos e fez caboclo virar pedinte na cidade. E o que dizer daquela de 2009, o maior dilúvio que a Amazônia vivenciou nos últimos 50 anos?
Quem dera fosse todo o tempo verão! Zé apertava os olhos para ver como num filme a fartura de frutas, os ovos de tracajá*, o leite fresquinho, o piracuí* e o peixe abundante. Pasto nativo sobrando para o gado, a perder de vista. Mas aí vinha o inverno, o inverno trazia a cheia, a cheia trazia a fome, a fome trazia as dívidas. Porém seria aquele, o último ano de penúria. Um plano ousado teimava em sua cabeça. E se não desse certo? Mas daria, tinha que dar...
Caso o aguaceiro deixasse, venderia suas reses para o primeiro marchante, depois do reparador pasto da vazante. Aquele terreno provavelmente perderia, pois o banco, tão solícito na hora de emprestar a grana, não contemporiza com quem deve. Todo banco, oficial ou particular, realiza-se plenamente quando o cliente se torna escravo de sua própria dívida. Mas tudo bem. Talvez só com o dinheiro do gado... Era com esse dinheiro que faria o “milagre”.
A menos de uma hora de viagem de barco estava Óbidos e ali certamente acharia trabalho. O mesmo podia pensar de Santarém, distante umas oito horas rio abaixo. Nunca se imaginara naquela vida de cidade. Seria custoso partilhar seu espaço com carros, ter que andar todo tempo de sapato, aguentar o barulho do molecório próximo aos colégios e, acima de tudo, o suplício de saber que a parede de sua casa é também a parede do vizinho.
Ainda por cima, teria que pagar luz e água, principalmente esta, que no momento o Amazonas lhe impunha abundante e de graça. Em contrapartida, naqueles mesmos colégios barulhentos seus filhos poderiam estudar, aprender ao menos a escrever o nome. Sua Joana poderia lavar roupa de algum “barão” e quanto a ele... bem, ele acharia trabalho, disposição não lhe faltava; quem sabe fazendo carreto ou como braçal da prefeitura, na capinação de rua, agora que a lida com a juta e a castanha tinha fracassado e emprego andava vasqueiro*.
Em Óbidos, bem que tentou arranjar emprego no dia do Círio de Sant’Ana*, quando falou com o deputado que estivera em sua casa no ano anterior mendigando voto para se reeleger, prometendo-lhe mundos e fundos. O pilantra fez que não o conheceu, desconversou, disse que não podia ajudar, que nem mesmo se lembrava dele. Ficou arrasado.
O certo é que seu compadre Manoel, conhecido nas arpoações de pirarucu como “Manduca Mãe do Sono”, estava feliz da vida vivendo por lá, fazendo não se sabe bem o quê, ele e seu filho mais velho de 13 anos, que de tanto estudar ficou bamba na tabuada e já dava “quinau” em gente grande, sem ligar para enchente, gado ou fome. E olha que o Manduca, salvo sua disposição como pescador, era até meio indigno para outras tarefas, tanto que entre uma e outra tarrafeação*, vivia escornado pelos cantos tirando uma pestana, daí o apelido. Há dois anos ele abandonara a várzea, foi pra cidade e nunca mais pensou em voltar. Se com aquele desinfeliz dorminhoco dera certo, por que não daria com ele, que não enjeitava serviço?
Lá no bairro da Cidade Nova, que o prefeito da época criou para moradia de gente pobre, aterrando impiedosamente o Igarapé do Juncal, compraria uma barraca. Depois levaria a família, trabalharia que nem jumento de verdureiro, mas educaria os filhos. Seu caçula – que ainda estava na barriga – não iria sofrer como os outros. Seria livre para brincar em terra firme, longe das cobras, das sanguessugas e das dolorosas mordidas das formigas tracuás*. Olhou novamente a cidade, na contraluz da tarde que se findava.
As torres da Catedral de Sant’Ana, como que espetando o céu, faziam redobrar sua fé da padroeira, a quem dirigiu muda e emocionada súplica. Concordasse ou não Joana, aquele plano tinha que ser tentado. Fugir para a cidade para não morrer à míngua, era a saída que lhe restava. Olhou sua própria imagem refletida na água. Vestia andrajos. Haveria de dar certo...
Por entre a chiadeira asmática do velho rádio de pilha, outro salvado da enchente que já lhe arrebatara a parabólica, distinguiu os suaves acordes da Ave-Maria, inspirando a quietude das seis horas. Tornou a olhar e viu Joana aproximar-se, andar arrastado, escolhendo aonde pisar no precário madeirame. Notou algo estranho naquela fisionomia abatida que um dia achara bela. Alguma coisa de anormal acontecera.
– Zé, meu velho, os meninos tão com febre alta e o corpo sarapintado. Acho que é catapora. Antes que esta maldita enchente mate, vende as nossas vacas para que a gente cuide deles...
Zé Lopes ficou cabisbaixo. Esmagado por mais aquele imprevisto, torturado pela ideia de permanecer naquele tijuco* sabe-se lá por quanto tempo mais, deixou escapar um suspiro profundo. Levantou-se, olhou em torno como que procurando alguma coisa e meio vacilante tomou o rumo da barraca, na qual entrou praticamente agachado, espremido entre a ponte tortuosa e o beiral superior da porta. Que m... de vida, pensou!
=======================
Glossário:
ACAUÃ = ave falconiforme com cerca de 47 cm de comprimento, plumagem amarelo-creme, dorso escuro, com faixa negra, que se estende até a nuca, e cauda negra, barrada de branco. Seu canto, emitido no crepúsculo e ao alvorecer, é considerado mal-agourado e prenunciador de chuvas.
CARIBÉ = alimento líquido, cujo ingrediente primeiro é a farinha de mandioca. Inventado pelos caboclos da Amazônia paraense que atribuem ao alimento carga curativa, sendo capaz então, de fortificar, sustentar e restabelecer aqueles sujeitos que por ventura tenham sido acometidos por alguma enfermidade.
DIA DE CÍRIO DE SANT’ANA – festa religiosa no 2º Domingo do mês de julho e marca “o início dos festejos de Nossa Senhora Sant'Ana”, Padroeira da Diocese e da Paróquia de Óbidos.
COIVARA =galharia e troncos derrubados pelas cheias e que descem os rios.
CUIANTÃ = moça, mulher jovem.
CURUMIM = garoto, menino.
ESPINHEL = artefato para pesca de fundo composto de uma linha forte e comprida com várias linhas curtas presas a ela, a intervalos regulares, cada uma com um anzol na ponta.
IGAPÓS = vegetação baixa e uniforme da floresta amazônica, pobre em espécies, com árvores afastadas.
IGARITÉ = embarcação cargueira do Amazonas com capacidade até 2 t.
MAMOTE = filhote crescido que ainda mama.
MAROMBA = cabo de aço ou de fibra vegetal, suspenso de uma margem à outra de um curso de água, sobre o qual os tripulantes das embarcações de travessia exercem tração manual para fazê-las deslocar
MUNGUBEIRA = árvore de até 25 m de folhas compostas, flores eretas e frutos capsulares, com paina fina e pardacenta; Nativa da Amazônia, é usada para a extração de celulose e de fibras para cordoaria.
PAXIÚBA = palmeira de até 20 m do Amazonas e outros estados e países da região, especialmente em áreas alagadas, com características raízes-escoras, estipe fino e anelado, folhas pinadas e frutos ovoides, amarelo-avermelhados, cuja madeira é usada pela população ribeirinha para a confecção de bengalas e tabuados, e pelos indígenas para a confecção de arcos, flechas e lanças.
PIRACUÍ = iguaria feita de peixe seco em pó.
PREMEMBECA = tipo de capim que forma grandes aglomerados ao longo dos rios e em suas várzeas.
SURUCUCU = serpente venenosa de grande porte, pode alcançar 2 m ou mais de comprimento, e apresenta colorido marrom-amarelado com grandes manchas triangulares pretas. É a maior serpente venenosa da América do Sul.
TARIPUCÚ = espécie de capim.
TARRAFEAÇÃO = puxar boi pelo rabo para derrubar.
TERÇADO = facão grande.
TIJUCO – lugar de solo mole, charco, pântano.
TRACAJÁ = tartaruga de água doce encontrada nos rios amazônicos, com cerca de 50 cm de comprimento, carapaça abaulada, pardo-escura, e cabeça com manchas alaranjadas. Os ovos, colocados nas praias dos rios, são apreciados pelo povo amazônico.
TRACUÁS = formigas da Amazônia, que vive em cupinzeiros arborícolas abandonados e forma colônias numerosas. É agressiva e solta cheiro forte quando esmagada.
URUÁ = palmeira de até 20 m, nativa do Amazonas, de estirpe anelado, folhas verde-reluzentes e frutos drupáceos
VASQUEIRO = difícil de conseguir, de encontrar.
Fonte:
Texto e foto da cheia enviado pelo autor, de seu livro “Um pouco de muitas histórias”. 1. Edição. Editora TrêsC, 2016, pág. 81/85.