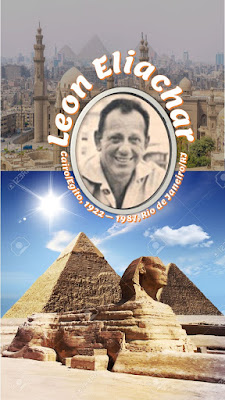– Está a brincar!
– Sério. É irrevogável. Preciso um pouco de ar, um pouco de descanso, de repouso, de sossego. A vida desta cidade ataca-me muito os nervos…
Era no salão de Irene de Souza, o salão em que a esplêndida atriz fundira o confortável inglês com o luxo do antigo, espalhando entre os divãs fartos da casa Mapple, bergeres mais ou menos autênticas do século XVIII, contadores do tempo de Carlos V, e por cima das mesas, por cima dos móveis, nos porta-bugigangas de luxo, marfins orientais, esmaltes árabes, estatuetas raras, fotografias com dedicatórias notáveis. Irene de pé, diante da secretária, sorria, estendendo-me as duas mãos finas, nervosas, enquanto os seus dois grandes olhos ardiam mais loucos e mais passionais.
Irene de Souza! Que legenda e que beleza! Os seus inimigos asseguravam-na apanhada como criada de servir perto de um quartel para os lados de S. Cristóvão; outros diziam-na filha de uma família muito distinta do Sul. Ao certo porém ninguém sabia senão aquela aparição brusca no teatro, bela como a Vênus de Médicis, a arrastar nos decadentes tablados cariocas vestidos de muitos bilhetes de mil, criados pelo Paquin e pelo Ruff. Não era uma pequena qualquer. Era a bela Irene de Souza que queria ser a boa, a humilde, a simpática, a talentosa Irene. A critica fora jantar a sua "vila" de Copacabana, onde Irene, ao nascer do sol, num regime essencialmente esportivo, fazia duas horas de bicicleta e sessenta minutos de natação. E a critica suportara o seu companheiro Agostinho Azambuja, empreiteiro, rico, casado; a crítica elogiara Irene, e de chofre todas as atrizes, todos os cabotinos sentiram-se diminuídos lendo no cartaz, em grossas letras, o nome de Irene en vedette, de Irene repentinamente footlight. Ela continuava tão boa porém, tão amiga, tão simples, tão séria… Tão séria? Deram-lhe todos os amantes imagináveis em vão, por vingança afirmaram que os seus dentes como os seus sapatos eram feitos em Paris, emprestaram-lhe instintos perversos, e foi célebre a frase de um jornalistinha desprezado: De pé é a Vênus de Médicis, deitada é a Vênus Andrógina. Mas Irene mostrava o claro fio da dentadura com uma despreocupação tal, tratava tão camarariamente os homens que a calúnia tombou.
De resto Agostinho Azambuja tinha uma confiança muito elegante. A lenda era esse homem vulgar, possuído de uma paixão devoradora, agarra uma pobre rapariga no mais relés alcouce (prostíbulo) e fizera-a uma obra sua para dominar a cidade, uma mulher perfeita, falando quatro ou cinco línguas, conhecendo música, vibrante de arte e de elegância que é a arte de ser sempre a tentação. Mas a paixão, o ciúme, esses paroxismos fatais de quem quer muito bem, Azambuja encobria-os numa serenidade de bom tom, talvez mesmo para Irene, deixando-a sair só, não lhe perguntando nunca de onde viera, recebendo na própria casa os apaixonados que a ela poderiam ser úteis para o reclamo, colocando-a numa posição verdadeiramente superior, sem esquecer o lado prático porque lhe assegurava o futuro, comprava-lhe casas, joias.
No dia em que correu ter o Azambuja presenteado Irene com uma baixela de ouro lavrado, herdada do avô, um vago judeu argentário, as mulheres tiveram a certeza da superioridade da rival, e foi notada a resposta do Azambuja a Etelvina, primeira ingênua casada e adúltera da companhia:
– Minha filha, já não estou na idade de satisfazer os caprichos de uma mulher. A Irene quem a fez tal qual fui eu. Vivo do orgulho que ela me dá. É o meu chic.
– E se o trair?
– Tem bastante espírito para o não fazer, e lucrarias mais se fosses sua amiga.
Mas isso é que ninguém concebia: a Irene sem enganar o Azambuja. Afinal era uma rapariga de vinte e cinco anos, um verão ardentíssimo, uma beleza que chamava paixões! Muita vez no seu camarim, forrado de seda cor-de-rosa, faziam-se comentários.
– Mas não ama o velho Agostinho?
– Está claro que não o posso amar como Julieta a Romeu. Há uma grande diferença de idades. Mas respeito-o e sou-lhe grata. É quanto basta. Eis a razão por que resisti a princípio e hoje sou invulnerável.
– Francamente?
– Deve compreender que seria muito parva se fosse perturbar a minha vida e a beleza que vocês proclamam com uma paixão. Ora só a paixão poderia influir. Essa não vem, não vem, e não virá nunca. Conheço os homens.
De fato, tinha razão. Como o seu sorriso tomava-se cortante, as narinas palpitavam e com o seu ar de Diana à caça, ela permitia-se abraços e beijos com as companheiras, mais falsas que a onda, logo se formou irrevogável a legenda.
– Irene? Amantes não… A Irene procura alguém de quem o Azambuja não tenha ciúmes. Lembrar-te da frase do Gomide?
A legenda foi mesmo tão espalhada que súbitas ternuras apareceram, e alguns camarotes eram insistentemente ocupados pelas mesmas damas nas noites das suas representações, e vários convites surgiram para tê-la na companhia de senhoras bem cotadas.
– És uma criatura imperfeita, disse-lhe eu um dia.
– Por quê?
– Porque não amas o amor. Lembra-te dos versos do Poeta:
Que os vossos corações aprendam a viver,
Amando o amor, amando a perfeição,
A perfeição da alma que nos traz o prazer
Supremo e a suprema ilusão!
Ela suspirou, tristemente.
– Se é assim? Que hei de eu fazer? Mas que romântico, Deus!
E todos nós, jantando nas suas pratas, escrevendo a respeito do seu talento, tínhamos aceitado o caso como definitivo. Até Irene mesmo, mostrando predileções excessivas, parecia sossegar com a esquisita calúnia e mostrava uma alegria, uma imensa satisfação na vida. De modo que aquela partida brusca, após seu último sucesso agradável numa comédia inglesa, era de desnortear.
Ao saber a resolução pelo velho Azambuja na rua, eu tomara um tílburi, interessado como diante da saída de um ministro, e estava ali, interrogando-a, no meio da desordem do salão, onde havia malas, chapéus, plumas e um intenso cheiro de heliotropo.
– Mas por que partir, Irene?
– Porque é preciso.
– Uma briga com o Azambuja? Não? Aquele ataque da Suzana Serny? Também não? Então? Querem ver que afinal tem uma paixão?
Irene sorriu, no seu quimono rosa, guarnecido de uma leve renda antiga.
– Paixão? Sabe o que estava a fazer, quando entrou? Estava a limpar a secretária, a rasgar declarações amorosas e a atirá-las para este cesto. Tudo quanto está vendo nesta secretária, tudo quanto vê neste cesto – é paixão!
Recuei assombrado. Nunca tinha visto tanta paixão reunida e um sorriso tão destruidor nos lábios de Irene.
– Oh! não se assuste! Essa paixão é uma das faces do meu amor ao teatro. O Azambuja sabe e, às vezes, lê as cartas comigo. Guardo os artigos de jornal num álbum e a chama amorosa na secretária. Algumas ainda não li, mas foi por falta de tempo…
– Cruel!
– Oh! É lá possível ler tudo quanto a tolice humana escreve? Recebo as cartas de bom humor porque é impossível zangar, e acabo considerando-as a homenagem anônima, uma espécie de palmas num teatro cheio. Quer lê-las?
Uma ansiedade invadiu-me.
– Irene, nunca amou? Francamente? Posso ler todas, todas?
– Todas, fez ela. Sem receio. Divirta-se! Eu vou mandar fazer um pouco de chá, feito da flor, enviado diretamente da China para um inglês rico que me adorou em vão.
Ergueu-se. Houve um deslocamento de perfumes. A meus pés o cesto abria a fauce (goela) abarrotada; diante das minhas mãos a secretária escancarava-se. Hesitei, olhei-a, não resisti.
Ah! o estranho capitulo de psicologia, a irritável página de análise! Daquela papelada subia como uma fúria de paixão, de doença, de loucura. Havia mais de quinhentas cartas, havia mais de mil postais e nesses quadriláteros de papel ardia um arco-íris passional desde a chama roxa da melancolia à chama rosa do amor precoce. A primeira carta que abri tinha ao canto um passarinho voando, e começava assim: "D. Irene, queira desculpar, ao receber esta mal traçadas linhas que lhe envio do Internato. Tenho quinze anos e vi-a ontem. Como é bonita!"
– Conheceu?
– Nunca o vi. Pobre pequeno! Do seu primeiro amor não guardará ao menos más recordações.
– Cá tenho outro: "Senhora. As horas fogem e a esperança fica. Quem a chamou de feia e a senhora não sabe quem é."
– Quantos nestas condições! Vá vendo…
Eu ia com efeito vendo. Peguei de outro: "Adeus, flor da minha vida! E que nas outras cidades deixe os mesmos corações despedaçados. – Maníaco."
– Este confessa-se maluco!
– O que não fazem os outros…
Mas as tolices, os gritos de paixão, que são sempre ridículos, não acabavam mais. Eu lia versos, lia pensamentos patetas, via toda a palpitação ingênua do coração dos homens; ameaças de suicídio, ofertas de dinheiro, descrições de vida futura, pedidos de uma humildade de rafeiro, agonias com erros de português, máximas idiotas e generosas: "A amizade da mulher tem um encanto mais suave do que a do homem: é ativa, vigilante, terna e durável", graças nevrálgicas de palhaço amoroso. Deus! O amor, que dolorosa moléstia… eu não sei por que um nervosismo incompreensível fazia-me trêmulos os dedos, eu procurava com ânsia, humilhado, espezinhado, como se fosse responsável por todas as sandices do meu fraco sexo.
– A carta anônima é às vezes melhor que a carta de amor!
– Sabe que teve um pensamento?
– Como os que acabou de ler?
– Não, um pensamento diamantino.
– Pois venha tomar chá.
A criada servia, com efeito, o chá num lindo "tête-à-tête" de porcelana com guarnições en vermeille. A encantadora Irene parada; os seus olhos pareciam levemente inquietos. Eu continuava a remexer a secretária. Uma das missivas era enorme. Abri-a. "Peço a V. Ex. que me perdoe a ousadia, e, genuflexo, reclamo o seu carinho para os queixumes de um coração sofredor. Não sei fazer poesia, sou imensamente avesso às flores de retórica e suponho que não me igualarei ao gorjeio dos rouxinóis ou às asas das borboletas inquietas…"
– Basta! Basta! fez Irene, tapando os ouvidos.
– É a paixão.
– Venha antes tomar chá. Olhe a frase de Ibsen, na Comédia do Amor: O amor é como o chá. Bebamo-lo!
– Ah! minha querida! Como os homens são idiotas! Essa mania de escrever cartas de amor é bem o sintoma de inferioridade. Se eles soubessem o fim das suas letras e o pouco caso que delas fazem as mulheres. Ainda não tive amante que com ela não rasgasse as cartas dos que me tinham precedido.
– Era uma afirmação de que pelo menos no momento não o enganavam.
– Quem sabe?
Ela sorria com a chávena na mão. Era realmente bela. Toda de rosa, naquele quimono de seda, lembrava uma flor maravilhosa, uma flor de lenda, inacessível aos mortais. Eu compreendia a futilidade, a tolice, a miséria lamentável dos homens, diante da sedução de Vênus Vingadora, da Vênus que não se entregara nunca, e era honesta sem amantes, sem crimes, sem calunias…
Mas por que ia ela para a Europa? Por que me humilhava com aquela intimidade de correspondência aberta? Por quê? Os meus dedos encontraram uma gaveta. Abri-a. Nunca a linda Irene de Souza amara um homem! Era honesta, era o polo do desejo! Ah! não… várias cartas. Apanho uma ao acaso. Um selo italiano. Tirei-a do invólucro: "Cruel. Hei de matar-te se alguma vez te encontrar ajeito. Não me quiseste e eu peno, peno há cinco anos. Conto que ainda hei de ver o teu sorriso indiferente, 6 8,6 8, oitavo do século, no mesmo lugar. Preciso muito…"
Não continuei.
– E olhe que tem também um doido.
– Palavra?
– Um sujeito que está na Itália, ao que parece. Fala do número 8, chama-a cruel.
– E eu que ainda não tinha lido! Com efeito. E curioso. E assina-se César! Não faz coleção de selos? A filatelia está em moda.
– Como todas as parvoices inofensivas. Ainda lá não cheguei.
Depois, parei. Ela estava preocupada, séria, um tanto fria talvez. Decididamente aborrecia a bela Irene de Souza. E era de compreender. Irene preparava a sua partida, desejava estar só. Curvei-me.
– Adeus, então. Seja mais humana lá fora.
– Eu? Com os espias e as agências de informação pagas pelo Azambuja? Da última vez que estive em Paris, Azambuja mostrou-me um dossiê tão copioso que eu pensei no Affaire Dreyffus. Qual, meu amigo, sou invulnerável. E rindo alegremente: já se vê que pour cause…
Saí varado, porque afinal não há nada mais impertinente do que encontrar realmente honesta uma mulher que não tem o direito de o ser, e indo pela Avenida Beira-Mar a matutar naquela criatura excepcional encontrei o velho Justino Pereira, a passear também.
– Poesia?
– Não, ideias. Venho da casa da Irene.
– Boa pega!
– Oh! não, um espírito prático, incapaz de amar. Mostrou-me verdadeiras cascatas de amor.
– As mulheres nunca mostram todas as cartas. É o seu grande trunfo.
– Velho cético!
– Mesmo porque há cartas que os maridos e os amantes podem ler, cartas desvairadas, sem sentido… Que cara a tua! Pareces criança. Pois meu tolo basta uma combinação prévia, basta uma chave do sentido oculto. Por exemplo: Hei de matar-me. Tradução: Não deixes de vir. Peno há cinco anos. Tradução: Preciso de dinheiro.
– Ora o fantasista! Não me vai dizer que a Irene tem amantes.
– E se disser que tem mesmo uma espécie de gigolô, a quem sustenta?
Indignado, como se fosse uma questão de honra pessoal, estaquei.
– Sr. Justino Pereira, nada de calúnias. Irene está acima de maledicência. O senhor calunia e é pelo menos incapaz de nomear o tal gigolô.
– Oh! filho, fez Justino a sorrir. Soube-o por um acaso, não tenho que guardar. É até um lindo rapaz, corpo de esgrimista, olhos devoradores. Nasceu em S. Paulo, chama-se Victorino Maesa e partiu há dois meses para a Itália.
Como me visse pálido, aturdido, sem saber o motivo daquela emoção,
sem saber que como um imbecil eu tivera a carta na mão:
– Estás apaixonado? Contrariei-te? Todas as mulheres são excepcionais quando se lhes quer prestar atenção. Mas no mundo não há uma que não tenha um segredo simples, que lhe mostra um reverso inteiramente diverso da aparência…
E desatou a rir enquanto eu esforçava-me por fazer o mesmo.
Fonte:
João do Rio. Dentro da Noite. Publicado em 1910.