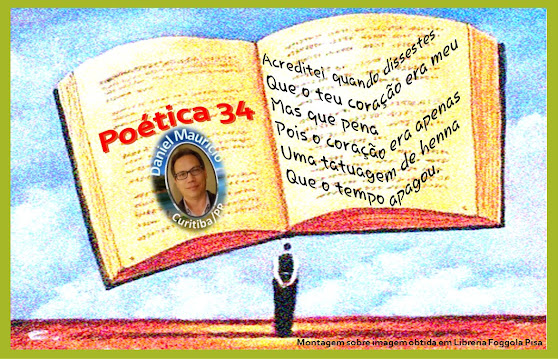Esta é uma história exemplar, só não está muito claro qual é o exemplo. De qualquer jeito, mantenha-a longe das crianças. Também não tem nada a ver com a crise brasileira, o apartheid, a situação na América Central ou no Oriente Médio ou a grande aventura do homem sobre a Terra. Situa-se no terreno mais baixo das pequenas aflições da classe média. Enfim.
Aconteceu com um amigo meu. Fictício, claro. Ele estava voltando para casa como fazia, com fidelidade rotineira, todos os dias à mesma hora. Um homem dos seus 40 anos, naquela idade em que já sabe que nunca será o dono de um cassino em Samarkand, com diamantes nos dentes, mas ainda pode esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. Furou-lhe um pneu. Com dificuldade ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha contra o macaco, não um dos grandes macacos que o desafiavam no jângal dos seus sonhos de infância, mas o macaco do seu carro tamanho médio, que provavelmente não funcionaria, resignação e reticências... Conseguiu fazer o macaco funcionar, ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para um bueiro. Onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou a acreditar. Limpou as mãos o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher. Imaginou a cena. Ele entrando em casa e respondendo às perguntas da mulher antes de ela fazê-las.
— Você não sabe o que me aconteceu!
— O quê?
— Uma coisa incrível.
— O quê?
— Contando ninguém acredita.
— Conta!
— Você não nota nada de diferente em mim? Não está faltando nada?
— Não.
— Olhe.
E ele mostraria o dedo da aliança, sem a aliança.
— O que aconteceu?
E ele contaria. Tudo, exatamente como acontecera. O macaco. O óleo. A aliança no asfalto. O chute involuntário. E a aliança voando para o bueiro e desaparecendo.
— Que coisa. — diria a mulher, calmamente.
— Não é difícil de acreditar?
— Não. É perfeitamente possível.
— Pois é. Eu...
— SEU CRETINO!
— Meu bem...
— Está me achando com cara de boba? De palhaça? Eu sei que aconteceu com essa aliança. Você tirou do dedo para namorar. É ou não é? Para fazer um programa. Chega em casa a esta hora e ainda tem a cara-de-pau de inventar uma história em que só um imbecil acreditaria.
— Mas, meu bem...
— Eu sei onde está essa aliança. Perdida no tapete felpudo de algum motel. Dentro do ralo de alguma banheira redonda. Seu sem-vergonha!
E ela sairia de casa, com as crianças, sem querer ouvir explicações.
Ele chegou em casa sem dizer nada. Por que o atraso? Muito transito. Por que essa cara? Nada, nada. E, finalmente:
— Que fim levou a sua aliança?
E ele disse:
— Tirei para namorar. Para fazer um programa. E perdi no motel. Pronto. Não tenho desculpas. Se você quiser encerrar nosso casamento agora, eu compreenderei.
Ela fez cara de choro. Depois correu para o quarto e bateu com a porta.
Dez minutos depois reapareceu. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom-senso, a venceriam.
— O mais importante é que você não mentiu pra mim.
E foi tratar do jantar.
Aconteceu com um amigo meu. Fictício, claro. Ele estava voltando para casa como fazia, com fidelidade rotineira, todos os dias à mesma hora. Um homem dos seus 40 anos, naquela idade em que já sabe que nunca será o dono de um cassino em Samarkand, com diamantes nos dentes, mas ainda pode esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. Furou-lhe um pneu. Com dificuldade ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha contra o macaco, não um dos grandes macacos que o desafiavam no jângal dos seus sonhos de infância, mas o macaco do seu carro tamanho médio, que provavelmente não funcionaria, resignação e reticências... Conseguiu fazer o macaco funcionar, ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para um bueiro. Onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou a acreditar. Limpou as mãos o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher. Imaginou a cena. Ele entrando em casa e respondendo às perguntas da mulher antes de ela fazê-las.
— Você não sabe o que me aconteceu!
— O quê?
— Uma coisa incrível.
— O quê?
— Contando ninguém acredita.
— Conta!
— Você não nota nada de diferente em mim? Não está faltando nada?
— Não.
— Olhe.
E ele mostraria o dedo da aliança, sem a aliança.
— O que aconteceu?
E ele contaria. Tudo, exatamente como acontecera. O macaco. O óleo. A aliança no asfalto. O chute involuntário. E a aliança voando para o bueiro e desaparecendo.
— Que coisa. — diria a mulher, calmamente.
— Não é difícil de acreditar?
— Não. É perfeitamente possível.
— Pois é. Eu...
— SEU CRETINO!
— Meu bem...
— Está me achando com cara de boba? De palhaça? Eu sei que aconteceu com essa aliança. Você tirou do dedo para namorar. É ou não é? Para fazer um programa. Chega em casa a esta hora e ainda tem a cara-de-pau de inventar uma história em que só um imbecil acreditaria.
— Mas, meu bem...
— Eu sei onde está essa aliança. Perdida no tapete felpudo de algum motel. Dentro do ralo de alguma banheira redonda. Seu sem-vergonha!
E ela sairia de casa, com as crianças, sem querer ouvir explicações.
Ele chegou em casa sem dizer nada. Por que o atraso? Muito transito. Por que essa cara? Nada, nada. E, finalmente:
— Que fim levou a sua aliança?
E ele disse:
— Tirei para namorar. Para fazer um programa. E perdi no motel. Pronto. Não tenho desculpas. Se você quiser encerrar nosso casamento agora, eu compreenderei.
Ela fez cara de choro. Depois correu para o quarto e bateu com a porta.
Dez minutos depois reapareceu. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom-senso, a venceriam.
— O mais importante é que você não mentiu pra mim.
E foi tratar do jantar.
Fonte:
Luís Fernando Veríssimo. As mentiras que os homens contam. Publicado em 2000.
Luís Fernando Veríssimo. As mentiras que os homens contam. Publicado em 2000.